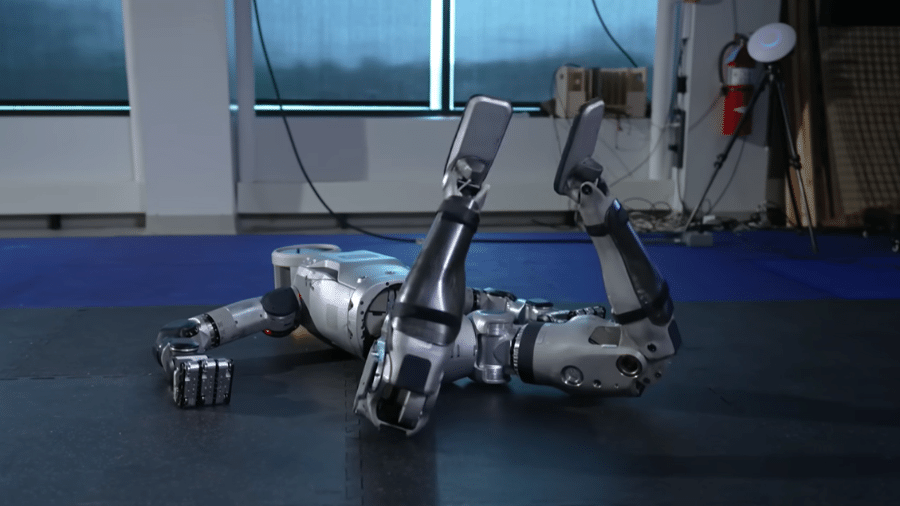Importância do primeiro passo na Lua, há 40 anos, ainda é difícil de ser medida
No final do primeiro capítulo do livro "Rabbit Redux", de John Updike, personagem que dá nome ao título, um pessoa comum ficcional da Pensilvânia, cujo nome é Harry Angstrom, sintoniza a televisão, como milhões de cidadãos não ficcionais, para assistir à chegada do homem à Lua.
Apesar de a missão da Apollo 11 lançar uma longa sombra metafórica sobre o livro, o segundo no que viria a ser um quarteto de romances sobre Rabbit, sua experiência envolvendo o evento memorável de 20 de julho de 1969 é curiosamente equívoca e desconectada. Não fica claro o que está acontecendo. Na televisão de seus pais, ele vê "um homem com silhueta volumosa se interpondo entre essas sombras e brilhos abstratos." Ele diz algo sobre 'passos', mas ruídos impedem Rabbit de entender.
"Um letreiro eletrônico que caminha de um lado para o outro diz HOMEM NA LUA".
Porém, o real significado dessas palavras foge ao pobre Rabbit. "Não sei", diz ele a sua mãe doente. "Sei que isso aconteceu, mas ainda não sinto nada".
O que ele deveria sentir? Será que isso foi um pequeno passo, ou um passo gigante? Em que direção? Talvez por causa da natureza híbrida da chegada à Lua - já foi um projeto científico e um espetáculo da mídia, uma expressão de idealismo apolítico e um ato de autoafirmação nacional, um fato e um símbolo -, esse acontecimento era, ao mesmo tempo, dramático e intrigante, até mesmo opaco.
Sua dimensão histórica e seu impacto cultural foram difíceis de medir, especialmente no momento e logo após o fato. Nada igual tinha acontecido antes, mas o que exatamente isso significava? O que mudava?
Como quase tudo que ocorreu no verão de 1969, a imagem da Lua parecia, ao mesmo tempo, uma apoteose e um anticlímax. Talvez, até mesmo para americanos com uma imaginação maior que a de Rabbit, o fato não significou muita coisa.
O espírito do momento, como ficou gravado na literatura e em registros culturais, era utópico e apocalíptico - sim, 1969 foi o ano de Woodstock, de "Easy Rider", do assassinato da família Manson, dos julgamentos do Chicago 8 -, mas também cansado, nervoso e confuso.
Para Rabbit Angstrom, o verão e o início do outono de 69 (representado por Updike, escrevendo um ano depois, no tempo presente) significam um período de caos pessoal e doméstico, de exploração selvagem e iminência de catástrofe. Os rompimentos e o tumulto que ele vivencia são intimações de um colapso social mais amplo, mascarando, às vezes, um renascimento cósmico.
Rabbit, assim como os Estados Unidos, emerge dos anos 60, nem arruinado nem transformado, mas cansado e balançado. A última palavra do livro é uma pergunta aflita, do tipo que você pode ouvir, ou fazer, ao acordar de um terrível acidente: "OK?"
No entanto, Rabbit não estava só. Norman Mailer se encontrava num estado de espírito similar. Mailer, em sua ficção jornalística "Of a Fire on the Moon", se autointitula Aquarius, mas essa adoção do idioma cósmico da contracultura é mais irônica que entusiástica. Em vez de ficar no limiar da New Age, Mailer, obedientemente reportando sobre o projeto Apollo em terra, se sente indiferente diante de um resultado histórico. À medida que a data de lançamento se aproximava, "Aquarius estava em depressão", escreveu Mailer, "que não melhoraria pelo resto do verão. Uma depressão curiosa, cheia de febre, pressentimentos e uma sensação geral de que o século acabou - que ele acabou no verão de 1969".
No livro, a caça de Mailer pelas metáforas celestiais é insuficiente, enquanto o grande explorador existencial das letras americanas descobre que a conquista do espaço está sendo planejada e conduzida por cientistas, burocratas e outras pessoas quadradas, pragmáticas e "pé no chão".
Observando a literatura contemporânea e as reações culturais à chegada do homem à Lua, como as obras de Mailer e Updike, você encontra encantamento acompanhado - e muitas vezes vencido - pela desilusão.
Em "Coming Apart", sua "história informal" dos anos 1960 (publicada em 1971), William O'Neill conclui um capítulo sobre o programa espacial num tom desanimador. Nos relatos de O'Neill, o grande triunfo do projeto Apollo foi, no mínimo, uma vitória de Pirro, a santificação de "um monumento à vaidade de homens públicos e à avareza dos contratantes. Isso se tornou um bom símbolo da década de 60".
Talvez. Mas, é claro, houve mais nos anos 60 - e no programa espacial - do que vaidades e espetáculos vazios. Se o significado da chegada à Lua como um evento singular foi difícil para os escritores e seus alter-egos entenderem, talvez tenha sido porque ela foi tão esperada, e realizada de uma forma que a pura realidade simplesmente não correspondia.
A promessa de John F. Kennedy, no começo da década, de colocar um homem na Lua até o fim dela liberou são só as ambições dos contratantes e técnicos, mas também a imaginação de cineastas e escritores de televisão, que exploraram as dimensões visionárias da promessa de Kennedy, ao mesmo tempo em que cientistas e astronautas da NASA trabalhavam nos detalhes do programa.
Dois exemplos, hoje canônicos, se destacam. O primeiro, "Jornada nas Estrelas", com sua retórica da "fronteira final" à moda Kennedy e seu espírito de liberalismo sério e capaz, se tornou um elemento essencial da cultura popular, tão frequentemente parodiado e reinventado que sua ousadia é difícil de esquecer.
Porém, enquanto as projeções de ficção científica dos anos 50 tendiam a focar na ameaça de invasões alienígenas e destruição planetária, e dar expressão a uma série de medos da Guerra Fria, "Jornada nas Estrelas" celebrou o humanismo, a resolução de problemas e a curiosidade. Não era à toa que o nome da nave espacial era Enterprise.
E aquela nave foi, acima de tudo, um espaço alegórico, cheio de significados e lições. No entanto, o espírito nerd de "Jornada nas Estrelas", que acabou seis semanas depoiso que Neil Armstrong pisou na Lua, não era nada comparado à sublimidade de "2001: Uma Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick, lançado em 1968.
Nesse filme, a aventura humana além da Terra - na Lua e em direção a Júpiter - trouxe um novo estágio na evolução da consciência, uma realização, transcendência e alteração da possibilidade humana.
Não foi exatamente isso que aconteceu quando o verdadeiro módulo lunar chegou à superfície da Lua. O festival de Woodstock não entrou numa nova era de paz, amor e liberação.
A tendência, natural do tempo, de exagerar sobre eventos singulares e aumentar drasticamente as expectativas pode ter tornado inevitável a decepção registrada por Rabbit e Aquarius. Nos anos seguintes a 1969, o apoio público e governamental ao programa espacial também diminuiu.
No entanto, a viagem à Lua - vislumbrada, em 1902, por Georges Melies, num dos primeiros trabalhos de cinema - floresceria como marco cultural de formas inesperadas. A ausência de sentimento, a falta de significado, que acompanhou a ampla veneração e o espanto, garantiu isso.
A cultura popular detesta um vácuo, e durante 40 anos os espaços vazios por trás da nossa atmosfera foram inundados com histórias, fábulas, paródias e expressões de estilo barato. Quando a imagem de Neil Armstrong se tornou uma logo para a MTV, foi menos a corrupção de um elemento nobre do que o uso de uma imagem disponível e reconhecível, e a realização de uma possibilidade que estava ali o tempo todo.
Quando eu frequentava o primeiro grau, um mural na minha sala de aula mostrava as datas mais significativas da História: 11 de outubro de 1492; 4 de julho de 1776; e 20 de julho de 1969, apenas alguns anos atrás. Esse dia, explicou um professor, foi quando "nós andamos na Lua".
Mas, é claro, "nós" não andamos na Lia. "Nós" estávamos, como Rabbit e Aquarius, em casa, rabiscando nosso caderno ou, muito provavelmente, assistindo à televisão, enquanto algo acontecia conosco - algo que ainda estamos tentando decifrar.
Apesar de a missão da Apollo 11 lançar uma longa sombra metafórica sobre o livro, o segundo no que viria a ser um quarteto de romances sobre Rabbit, sua experiência envolvendo o evento memorável de 20 de julho de 1969 é curiosamente equívoca e desconectada. Não fica claro o que está acontecendo. Na televisão de seus pais, ele vê "um homem com silhueta volumosa se interpondo entre essas sombras e brilhos abstratos." Ele diz algo sobre 'passos', mas ruídos impedem Rabbit de entender.
"Um letreiro eletrônico que caminha de um lado para o outro diz HOMEM NA LUA".
Porém, o real significado dessas palavras foge ao pobre Rabbit. "Não sei", diz ele a sua mãe doente. "Sei que isso aconteceu, mas ainda não sinto nada".
O que ele deveria sentir? Será que isso foi um pequeno passo, ou um passo gigante? Em que direção? Talvez por causa da natureza híbrida da chegada à Lua - já foi um projeto científico e um espetáculo da mídia, uma expressão de idealismo apolítico e um ato de autoafirmação nacional, um fato e um símbolo -, esse acontecimento era, ao mesmo tempo, dramático e intrigante, até mesmo opaco.
Sua dimensão histórica e seu impacto cultural foram difíceis de medir, especialmente no momento e logo após o fato. Nada igual tinha acontecido antes, mas o que exatamente isso significava? O que mudava?
Como quase tudo que ocorreu no verão de 1969, a imagem da Lua parecia, ao mesmo tempo, uma apoteose e um anticlímax. Talvez, até mesmo para americanos com uma imaginação maior que a de Rabbit, o fato não significou muita coisa.
O espírito do momento, como ficou gravado na literatura e em registros culturais, era utópico e apocalíptico - sim, 1969 foi o ano de Woodstock, de "Easy Rider", do assassinato da família Manson, dos julgamentos do Chicago 8 -, mas também cansado, nervoso e confuso.
Para Rabbit Angstrom, o verão e o início do outono de 69 (representado por Updike, escrevendo um ano depois, no tempo presente) significam um período de caos pessoal e doméstico, de exploração selvagem e iminência de catástrofe. Os rompimentos e o tumulto que ele vivencia são intimações de um colapso social mais amplo, mascarando, às vezes, um renascimento cósmico.
Rabbit, assim como os Estados Unidos, emerge dos anos 60, nem arruinado nem transformado, mas cansado e balançado. A última palavra do livro é uma pergunta aflita, do tipo que você pode ouvir, ou fazer, ao acordar de um terrível acidente: "OK?"
No entanto, Rabbit não estava só. Norman Mailer se encontrava num estado de espírito similar. Mailer, em sua ficção jornalística "Of a Fire on the Moon", se autointitula Aquarius, mas essa adoção do idioma cósmico da contracultura é mais irônica que entusiástica. Em vez de ficar no limiar da New Age, Mailer, obedientemente reportando sobre o projeto Apollo em terra, se sente indiferente diante de um resultado histórico. À medida que a data de lançamento se aproximava, "Aquarius estava em depressão", escreveu Mailer, "que não melhoraria pelo resto do verão. Uma depressão curiosa, cheia de febre, pressentimentos e uma sensação geral de que o século acabou - que ele acabou no verão de 1969".
No livro, a caça de Mailer pelas metáforas celestiais é insuficiente, enquanto o grande explorador existencial das letras americanas descobre que a conquista do espaço está sendo planejada e conduzida por cientistas, burocratas e outras pessoas quadradas, pragmáticas e "pé no chão".
Observando a literatura contemporânea e as reações culturais à chegada do homem à Lua, como as obras de Mailer e Updike, você encontra encantamento acompanhado - e muitas vezes vencido - pela desilusão.
Em "Coming Apart", sua "história informal" dos anos 1960 (publicada em 1971), William O'Neill conclui um capítulo sobre o programa espacial num tom desanimador. Nos relatos de O'Neill, o grande triunfo do projeto Apollo foi, no mínimo, uma vitória de Pirro, a santificação de "um monumento à vaidade de homens públicos e à avareza dos contratantes. Isso se tornou um bom símbolo da década de 60".
Talvez. Mas, é claro, houve mais nos anos 60 - e no programa espacial - do que vaidades e espetáculos vazios. Se o significado da chegada à Lua como um evento singular foi difícil para os escritores e seus alter-egos entenderem, talvez tenha sido porque ela foi tão esperada, e realizada de uma forma que a pura realidade simplesmente não correspondia.
A promessa de John F. Kennedy, no começo da década, de colocar um homem na Lua até o fim dela liberou são só as ambições dos contratantes e técnicos, mas também a imaginação de cineastas e escritores de televisão, que exploraram as dimensões visionárias da promessa de Kennedy, ao mesmo tempo em que cientistas e astronautas da NASA trabalhavam nos detalhes do programa.
Dois exemplos, hoje canônicos, se destacam. O primeiro, "Jornada nas Estrelas", com sua retórica da "fronteira final" à moda Kennedy e seu espírito de liberalismo sério e capaz, se tornou um elemento essencial da cultura popular, tão frequentemente parodiado e reinventado que sua ousadia é difícil de esquecer.
Porém, enquanto as projeções de ficção científica dos anos 50 tendiam a focar na ameaça de invasões alienígenas e destruição planetária, e dar expressão a uma série de medos da Guerra Fria, "Jornada nas Estrelas" celebrou o humanismo, a resolução de problemas e a curiosidade. Não era à toa que o nome da nave espacial era Enterprise.
E aquela nave foi, acima de tudo, um espaço alegórico, cheio de significados e lições. No entanto, o espírito nerd de "Jornada nas Estrelas", que acabou seis semanas depoiso que Neil Armstrong pisou na Lua, não era nada comparado à sublimidade de "2001: Uma Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick, lançado em 1968.
Nesse filme, a aventura humana além da Terra - na Lua e em direção a Júpiter - trouxe um novo estágio na evolução da consciência, uma realização, transcendência e alteração da possibilidade humana.
Não foi exatamente isso que aconteceu quando o verdadeiro módulo lunar chegou à superfície da Lua. O festival de Woodstock não entrou numa nova era de paz, amor e liberação.
A tendência, natural do tempo, de exagerar sobre eventos singulares e aumentar drasticamente as expectativas pode ter tornado inevitável a decepção registrada por Rabbit e Aquarius. Nos anos seguintes a 1969, o apoio público e governamental ao programa espacial também diminuiu.
No entanto, a viagem à Lua - vislumbrada, em 1902, por Georges Melies, num dos primeiros trabalhos de cinema - floresceria como marco cultural de formas inesperadas. A ausência de sentimento, a falta de significado, que acompanhou a ampla veneração e o espanto, garantiu isso.
A cultura popular detesta um vácuo, e durante 40 anos os espaços vazios por trás da nossa atmosfera foram inundados com histórias, fábulas, paródias e expressões de estilo barato. Quando a imagem de Neil Armstrong se tornou uma logo para a MTV, foi menos a corrupção de um elemento nobre do que o uso de uma imagem disponível e reconhecível, e a realização de uma possibilidade que estava ali o tempo todo.
Quando eu frequentava o primeiro grau, um mural na minha sala de aula mostrava as datas mais significativas da História: 11 de outubro de 1492; 4 de julho de 1776; e 20 de julho de 1969, apenas alguns anos atrás. Esse dia, explicou um professor, foi quando "nós andamos na Lua".
Mas, é claro, "nós" não andamos na Lia. "Nós" estávamos, como Rabbit e Aquarius, em casa, rabiscando nosso caderno ou, muito provavelmente, assistindo à televisão, enquanto algo acontecia conosco - algo que ainda estamos tentando decifrar.