Não há consenso sobre o que é aceitável no jogo político brasileiro
Derreteram-se consensos em torno do que é, ou não, aceitável no jogo político brasileiro. Dentro e fora do Congresso, entusiastas do governo e seus opositores entendem que as ações de seus rivais estão a um passo de implodir a democracia, entendida como método de seleção de lideranças políticas a partir do voto popular, após os grupos adversários terem experimentado oportunidades iguais de discorrerem sobre suas propostas e possíveis consequências.
Outros grupos se dizem nem oposicionistas, nem governistas, mas, sim, unicamente a favor da democracia. É difícil não os apoiar, à medida que denunciam possíveis abusos do Judiciário contra liberdades individuais, como intermináveis prisões preventivas e desnecessárias conduções coercitivas. Mas igualmente difícil é não os ver como apoiadores do governo, uma vez que suas manifestações tratam desses lances polêmicos, mas não do que trouxeram à tona, ainda que isso seja fundamental para entendermos os tempos bicudos que estamos vivendo.
Tome-se como exemplo os áudios revelados pelo juiz Sérgio Moro, de modo potencialmente ilegal. Eles expõem traços de uma crise institucional profunda. De um lado, valendo-se de seu capital político junto ao Poder Executivo, o ex-presidente Lula manobrando em troca de eventuais apoios no Judiciário e para enfraquecer ações da Polícia Federal. De outro, esta burocracia (possuidora de um forte espírito de corpo) e a primeira instância do Judiciário tentando colocar na berlinda o quase-ministro-chefe da Casa Civil. O que foi ação e reação neste caso? Qual dos polos teria cometido erros mais condenáveis na tentativa de neutralizar o outro? As respostas variarão de acordo com as preferências partidárias e ideológicas.
O que se vê no caso brasileiro é um jogo que confirma a máxima segundo a qual a viabilidade da democracia depende, primordialmente, das estratégias adotadas pelas forças políticas com capacidade para derrubá-la. Em regimes representativos, o esperado é que, mediados por políticos eleitos, os objetivos dessas forças sejam discutidos e processados no interior de arenas oficiais, como o Congresso e as relações institucionais entre os três Poderes. Estas são tanto mais fortes quanto maiores são os incentivos que oferecem aos diversos atores políticos para que, reiteradamente, escolham resolver suas disputas dentro delas, induzindo, assim, resultados legítimos –ou seja, reconhecidos até pelas partes derrotadas.
Impeachment e golpe
Pela quantidade crescente de manifestações de rua e de vezes que lideranças públicas e intelectuais vêm proferindo a palavra “golpe”, descobrimos que nossas instituições políticas não têm a força que, até recentemente, lhes atribuíamos sem quaisquer ressalvas. Mas qual será a fraqueza delas? Certamente, as inconsistências jurídicas em torno do impeachment são parte da resposta.
Por vivermos em um regime presidencialista, no qual o chefe do Executivo é dotado de mandato fixo, a Constituição determina que o impedimento só seja aplicado em casos excepcionais. Mas a Lei 1.079/1950, responsável por defini-los, elenca situações pouco extraordinárias e muitas vezes genéricas. O descompasso é expressivo a ponto de o texto legal ter deixado de ancorar expectativas legítimas em torno da cassação de presidentes da República. Em relação às arenas políticas oficiais, esses dispositivos têm funcionado, portanto, como uma força centrífuga, incentivando os atores a construírem suas estratégias mais fora do que dentro delas.
Caso o impedimento se concretize, quais estratégias o governo e seus apoiadores utilizarão para contestar e reverter esta decisão? Seguramente, insistirão na tese do “golpe parlamentar”, ignorando a lembrança de que, quando na oposição, valeram-se das mesmas inconsistências legais de agora para, sem fundamentos firmes, pedirem o impeachment de Collor, Itamar e de FHC. Por tratar-se de um grupo influente entre formadores de opinião, a tese deve ganhar adeptos, encorajando a interpretação de que, no Brasil, as urnas não são respeitadas.
É possível ainda que vá adiante a estratégia enunciada por Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST): greves, ocupações e mobilizações. Essa possibilidade poderia ser descartada se não encontrasse eco em declarações de Lula. Recentemente, o ex-presidente teria dito a aliados que, se aprovado o impedimento, ele não sairia das ruas, além de ter afirmado, em 2015, que o exército de João Pedro Stédile, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ajudaria a defender o governo em caso de necessidade.
Se turbulências sociais se confirmarem, o desafio aos novos governantes será resistir à opção do endurecimento militar, escorada em discursos de restabelecimento da ordem. Caso caiam em tentação, a ordem democrática ficará à beira do abismo. Em um cenário como esse, mesmo que os militares não venham a ter o protagonismo que tiveram durante a ditadura e que eleições sejam mantidas, prevalecerá uma situação em que –representado sobretudo pelo PT e seus inúmeros simpatizantes– um dos grupos na disputa pelo poder oficial estará sob a mira do Estado, em desvantagem para discutir suas propostas e posicionamentos.
E o que esperar caso o Senado –em um movimento pouco provável– rejeite o impeachment? Os oposicionistas terão de resistir a procurar apoio em forças militares que batem continência a manifestantes pró-impedimento, tal como visto na Avenida Paulista, em 17 de março.
Como se pode perceber, em um assunto tão sensível quanto o impeachment, nossas instituições políticas não foram capazes de gerar segurança jurídica, e, portanto, estabilidade e previsibilidade. Como resultado, nossa democracia parece equilibrar-se entre as estratégias de líderes que, pública e indistintamente, falam sobre hipotéticas perseguições políticas ou que, tal qual na antessala do golpe de 1964, não se furtaram a participar de discussões sobre a imposição de alguma variante de parlamentarismo ao Executivo.
Melhor fariam situação e oposição se deixassem de se apresentar como o “arauto da democracia”, e passassem a mirar um inimigo comum e uma agenda positiva para combatê-lo. A reforma da Lei 1.079/1950 poderia ser um norte neste roteiro, esclarecendo o que, daqui para frente, será, de fato, entendido como crime de responsabilidade.
- O texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL
- Para enviar seu artigo, escreva para uolopiniao@uol.com.br


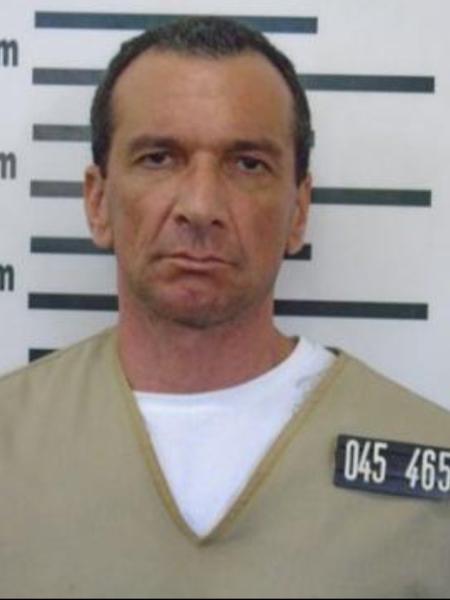


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.