Cúpula do G20: Quais as chances de Trump e Xi Jinping chegarem a um acordo durante o encontro?

Após meses de uma amarga batalha comercial, o encontro entre os líderes americano e chinês talvez seja o mais importante do evento que ocorre na Argentina.
Os dois líderes mais poderosos do mundo se encontrarão nesta semana após meses de uma amarga batalha comercial. Resta saber se os próximos capítulos terão como desfecho a conciliação ou a desarmonia.
Donald Trump e Xi Jinping têm tido um relacionamento complicado. No ano passado, o presidente americano parecia ser aquele que buscava a aproximação, enquanto a China estava na posição de quem dava as cartas.
Leia também:
- Os 4 focos de tensão global que serão assunto na cúpula do G20
- Temer diz não acreditar que Bolsonaro vá abandonar Acordo de Paris
- Sem Merkel, quebrando o protocolo e climão: entenda a foto do G20
Tanto que, nesse período, Trump não chegou a culpar a China pelo superávit comercial com os EUA, atribuindo a situação --ou seja, o fato de que os americanos importaram mais do país asiático do que exportaram para lá - a gestões anteriores.
Em resposta, a China afirmou que reduziria as barreiras de entrada para estrangeiros em seu mercado interno para alguns setores, fazendo com que investidores de todo o mundo dessem um suspiro de alívio.
Mas, em 2018, o relacionamento entre as duas potências se deteriorou rapidamente. Tarifas "de revanche" anunciadas em tuítes fomentaram uma guerra comercial que é, na verdade, uma ameaça mundial.
A batalha estará em foco quando Trump e Xi se encontrarem para um jantar neste sábado em meio à cúpula do G20 na Argentina.
Mas por que há sinais de que o desfecho dessa reunião não atenderá às expectativas mais otimistas? Entenda abaixo.
A China quer o controle
Os EUA têm preocupações legítimas sobre seu acesso ao mercado na China, segundo avaliação do Instituto Brookings, um centro de pesquisas sediado em Washington. Mas as tarifas sobre transações comerciais não são sempre o problema.
Pequim vem aliás baixando algumas alíquotas e, em alguns setores, elas são menores do que em outros mercados emergentes.
Mas o ponto que talvez mais precise de mudanças é a limitação imposta por Pequim ao acesso de empresas estrangeiras a seus consumidores.
Existem restrições ao investimento direto de companhias externas que vão do setor automotivo ao financeiro, passando pelas telecomunicações.
É aí que entra em cena a acusação dos americanos de que, com as restrições existentes, os chineses acabam se beneficiando da transferência de tecnologia e colocando em risco a propriedade intelectual das empresas estrangeiras que decidem entrar no mercado do país asiático. Seria uma troca desequilibrada, na visão de Washington.
Para apaziguar os EUA, a China precisaria relaxar regras que exigem joint ventures para agentes externos --uma medida protecionista para que empresas estrangeiras só possam atuar quando associadas a companhias chinesas.
É difícil que isso ocorra, porque o que Pequim tem demonstrado é que deseja o controle.
Se a China permitisse que as empresas estrangeiras ditassem os termos, provocaria uma mudança fundamental em como o país opera hoje. Xi Jinping tem demonstrado maior, e não menor, controle das rédeas da economia.
Uma retórica sem sinais de cooperação
Em todos os principais e recentes encontros internacionais, Washington disse ao mundo que Pequim é a culpada pelos problemas no relacionamento bilateral.
Trump, por exemplo, tem constantemente afirmado que vai aplicar mais tarifas a Pequim se os chineses não fizerem sinalizações positivas - ainda que essas ações pudessem eventualmente ter impacto negativo sobre a economia americana.
Falando na cúpula da Apec (Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico) recentemente, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, criticou a política chinesa do "Belt and Road Initiative" (algo como "Iniciativa do Cinturão e da Rodovia", que faz referência aos investimentos chineses em obras de infraestrutura em dezenas de países), dizendo que ela levaria as nações receptoras dos recursos a se afogarem em dívidas.
Já o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que os acordos chineses são "bons demais para ser verdade".
E mesmo na véspera da próxima reunião do G20, Larry Kudlow, diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, ressaltou que nenhum acordo será possível a menos que "questões envolvendo o roubo de propriedade intelectual, transferências forçadas de tecnologia e barreiras tarifárias e não tarifárias" sejam resolvidas.
Isso é praticamente tudo o que levou a economia chinesa a chegar onde está hoje. Pequim não vai querer sair de um encontro com as mãos abanando.
Mais que uma guerra comercial
EUA e China formam o binômio mais estratégico dos nossos tempos. Por décadas, essa relação funcionou.
Mas, nos últimos anos --e, em particular, desde que Xi assumiu--, a China vem se impondo no cenário internacional. Em parte, tomando os nichos que os EUA, ocupados com a crise financeira global e seus próprios problemas internos, deixaram na Ásia.
A China entrou em cena para desempenhar o papel de salvadora financeira, e existe um ressentimento legítimo em Pequim de que o país não recebe o reconhecimento que merece.
Por outro lado, iniciativas como a "Belt and Road", importante parte da política externa de Pequim, são cada vez mais vistas como um sinal de colonialismo econômico da China. As ações de Pequim no Mar do Sul da China também têm deixado Washington preocupado com os verdadeiros objetivos na região.
Portanto, a batalha entre EUA e China não é apenas sobre comércio. É uma tentativa da administração Trump de colocar a China em seu lugar, algo, por sua vez, temido por Pequim. Essas posições têm tornado difícil um acordo entre as duas partes.
E, mesmo quando há algumas sinalizações positivas, como quando Trump afirmou ter uma ótima química pessoal com Xi, o governo americano diz ao mesmo tempo que a China se aproveitou da generosidade americana e que isso precisa mudar.
Então, o mundo tem assistido a uma dança de um passo à frente, dois passos atrás.
Por isso há tanta expectativa para o próximo encontro entre as partes. Tudo indica, porém, que ao final da dança não haverá nada além de uma troca de cumprimentos protocolar ou até um adeus amargo.
Quão decisivo é, de fato, o G20?
Além do encontro entre Trump e Xi Jinping, o mundo assiste de perto às possibilidades de que a cúpula coloque o dedo na ferida de outra pauta internacional incômoda, de ordem geopolítica.
Existe uma pressão para que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman explique o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.
Mas, além de dar a possibilidade de líderes mundiais resolverem certas questões iminentes, o quão crucial a cúpula do G20 pode de fato ser?
Diz-se que o G20 é pequeno o suficiente para tomar decisões com alguma rapidez, e grande o bastante para que essas decisões façam uma diferença.
Afinal, o grupo representa 85% da economia mundial e dois terços da sua população.
Após mais de dez anos de cúpulas - a primeira foi em Washington, em 2008 -, o encontro se tornou o lugar natural para o debate sobre políticas econômicas em nível global.
Mas os críticos dizem que os êxitos do grupo ficaram para trás e que, hoje, ele é uma instituição multilateral ainda em busca de um propósito.
Entre os louros do passado, está a resposta do grupo à crise financeira desencadeada entre 2007 e 2008. Países desenvolvidos e emergentes se reuniram como iguais pela primeira vez e reconheceram a necessidade de apoiar o crescimento global.
O resultado foi a adoção coordenada de estímulos monetários e incentivos ao consumo, além de resgates financeiros.
Mas as medidas não alteraram radicalmente o funcionamento da economia global. Isso significa que uma crise financeira semelhante poderia acontecer novamente.
Hoje, novos obstáculos se impõem de maneira mais acentuada, como a diminuição do comércio e investimento global, o aumento das tarifas bilaterais e, nas economias emergentes, a fuga de capital e o enfraquecimento de moedas.
Some-se a isso o avanço de uma retórica nacionalista que se opõe ao multilateralismo representado por instituições como o G20 - e que, claro, já mostra reflexos na economia.















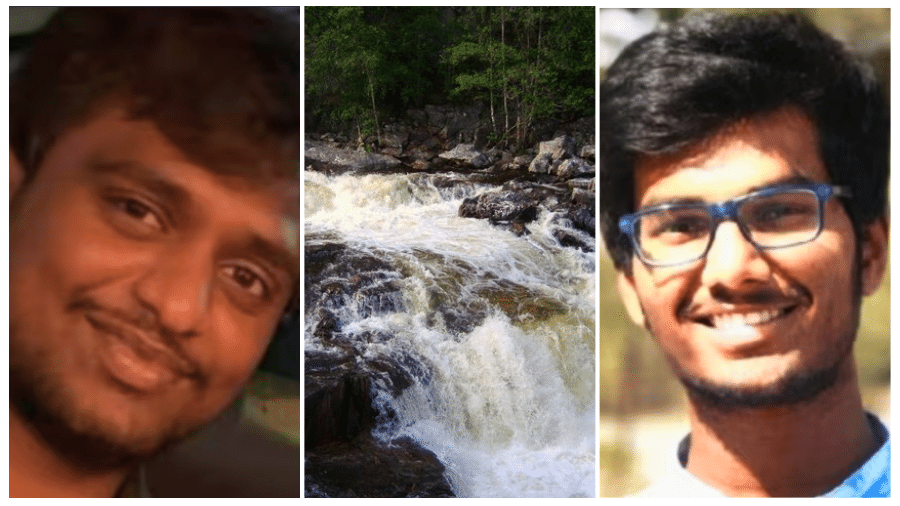




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.