Por que a desigualdade importa
O crescimento da desigualdade não é uma preocupação nova. O filme "Wall Street – Poder e Cobiça" de Oliver Stone, com seu retrato de uma plutocracia em ascensão insistindo que ganância é bom, foi lançado em 1987. Mas os políticos, intimidados pelos gritos de "guerra de classes", evitam tratar a crescente desigualdade entre os ricos e os demais.
Mas isso pode estar mudando. Nós podemos discutir a importância da vitória de Bill de Blasio na disputa pela prefeitura de Nova York ou o endosso por Elizabeth Warren de uma expansão do Seguro Social. E ainda resta ver se a declaração do presidente Barack Obama de que a desigualdade é "o desafio definidor de nossa era" será traduzida em mudanças nas políticas. Mas a discussão mudou o suficiente para produzir uma reação de estudiosos, que argumentam que a desigualdade não é grande coisa.
Eles estão errados.
O melhor argumento para colocar a desigualdade em banho-maria é o estado deprimido da economia. Não é mais importante restaurar o crescimento econômico do que nos preocuparmos sobre como os ganhos do crescimento são distribuídos?
Ora, não. Primeiro, mesmo se olhássemos apenas para o impacto direto do aumento da desigualdade na classe média americana, ela é realmente muito importante. Além disso, a desigualdade provavelmente exerceu um papel importante na criação de nosso apuro econômico, assim como um papel crucial em nosso fracasso em resolvê-lo.
Vamos começar pelos números. Em média, os americanos permanecem muito mais pobres hoje do que antes da crise econômica. Para as famílias nos 90% inferiores da pirâmide de renda, esse empobrecimento reflete tanto o encolhimento da torta econômica quanto a redução da fatia dessa torta. O que é mais importante? A resposta, incrivelmente, é que eles são mais ou menos comparáveis –isto é, a desigualdade está crescendo tão rapidamente que, ao longo dos últimos seis anos, tem sido um empecilho tão grande para o crescimento da renda dos americanos comuns quanto o mau desempenho econômico, apesar desses anos incluírem a pior crise econômica desde os anos 30.
E se você olhar por uma perspectiva mais longa, o aumento da desigualdade se torna o fator individual mais importante por trás da queda da renda da classe média.
Além disso, quando você tenta entender a Grande Recessão e a recuperação não tão grande que se seguiu, os impactos econômicos e, acima de tudo, políticos da desigualdade têm grande peso.
Agora é amplamente aceito que o aumento do endividamento doméstico preparou o caminho para nossa crise econômica; esse aumento de dívida coincidiu com o aumento da desigualdade e ambas provavelmente estão relacionadas (apesar do argumento não ser inquestionável). Depois da crise, a continuidade de transferência de renda da classe média para uma pequena elite foi um obstáculo para o consumo, de modo que a desigualdade está vinculada tanto à crise econômica quanto à fraqueza da recuperação que se seguiu.
No meu entender, entretanto, o papel realmente crucial da desigualdade na calamidade econômica é político.
Nos anos que antecederam a crise, houve um consenso bipartidário notável em Washington a favor da desregulamentação financeira –um consenso justificado nem por teoria e nem pela história. Quando ocorreu a crise, houve uma corrida para resgatar os bancos. Mas assim que isso ocorreu, surgiu um novo consenso, um envolvendo voltar a atenção não para a criação de empregos, mas sim na suposta ameaça dos déficits fiscais.
O que os consensos pré e pós crise têm em comum? Ambos foram economicamente destrutivos: a desregulamentação ajudou a tornar a crise possível, e o foco prematuro na austeridade fiscal contribuiu mais do que qualquer outra coisa para impedir a recuperação. Mas ambos os consensos correspondiam aos interesses e preconceitos de uma elite econômica, cuja influência política cresceu juntamente com sua riqueza.
Isso é especialmente claro se tentarmos entender por que Washington, no meio de uma crise em andamento de empregos, de alguma forma se tornou obcecada com uma suposta necessidade de promover cortes no Seguro Social e no Medicare (o seguro-saúde público para idosos e inválidos). Essa obsessão nunca fez sentido econômico: em uma economia deprimida com taxas de juros baixas recordes, o governo deveria gastar mais, não menos, e uma época de desemprego em massa não é o momento para se concentrar em problemas fiscais potenciais décadas à frente. Nem o ataque a esses programas refletia uma demanda popular.
Mas pesquisas entre os muitos ricos mostram que –diferentemente do público em geral– eles consideram o deficit orçamentário crucial e são favoráveis a grandes cortes nos programas da rede de segurança social. E, claramente, as prioridades dessa elite tomaram conta do discurso político.
O que me leva ao ponto final. Por trás de parte da reação contra a questão da desigualdade, eu acredito, está o desejo de alguns entendidos de despolitizar nosso discurso econômico para torná-lo tecnocrático e não partidário. Mas isso é ilusão. Mesmo em questões que podem parecer puramente técnicas, classe e desigualdade acabam moldando –e distorcendo– o debate.
Logo, o presidente estava certo. A desigualdade é, de fato, o desafio definidor do nosso tempo. Nós faremos qualquer coisa para responder a esse desafio?












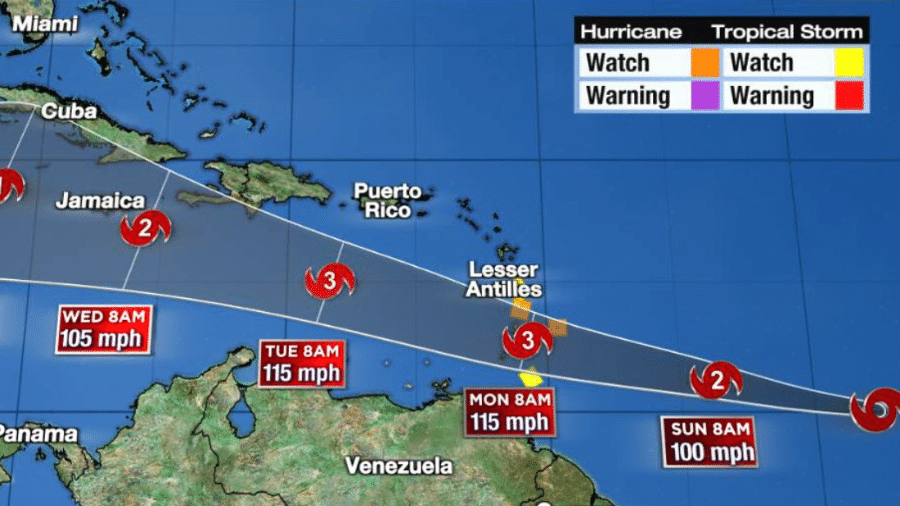


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.