A realidade como nós a conhecemos

Eu certamente já disse antes, mas direi de novo: um dos meus desejos é colocar um fim a esta coluna, ao menos em sua encarnação atual. Em intervalos de poucas semanas, eu tenho de conjurar um tema que seja atual, mesmo que meu desejo seja realmente reler a obra de Pinder e escrever uma crítica (um tanto tardia) de seus poemas. Em outras palavras, eu gostaria de falar sobre livros que talvez tenham sido esquecidos, mas que sinto serem “atuais” para serem lidos de novo. Poderiam ser livros de séculos atrás, apesar de que também gostaria de discutir obras contemporâneas que demorei a ler. Afinal, nem sempre é possível se manter atualizado.
Recentemente eu li “O Imaginário”, de Jean-Jacques Wunenburger, que saiu na França em 2003 e explora a ideia do imaginário individual e coletivo. É difícil dizer o que é o imaginário coletivo, mas com base neste livro, nós podemos ao menos tentar esboçar uma teoria possível. O imaginário coletivo não pertence às construções da razão, como a lógica, matemática ou ciências naturais, mas sim a uma série de representações “imaginárias” que podem variar de mitos antigos até ideias contemporâneas que circulam em cada cultura e às quais todos nós nos adaptamos –mesmo que sejam fantásticas, errôneas ou cientificamente não provadas.
Se formos falar de um imaginário coletivo para mitos, certamente “Ulisses” de James Joyce é um exemplo que domina nosso modo de pensar. E há as visões sagradas, as narrativas que se infiltram em nossas experiências individuais: é por essa lógica que Pinóquio se torna mais real para nós do que, digamos, o príncipe Klemens von Metternich da Áustria, ou outros titãs da história. E em nossa existência cotidiana, pode ser mais fácil seguirmos as lições da vida fictícia de Pinóquio do que as da vida real de Charles Darwin.
Em algum lugar em nosso imaginário coletivo estão os personagens Lemuel Gulliver e Emma Bovary. Há o jovem Werther, cujo suicídio fictício teria inspirado muitos leitores jovens a tirar suas próprias vidas. Mas segundo Wunenburger também há um imaginário coletivo gnóstico, alquímico ou oculto. Há “narrativas” que formam e direcionam nosso modo de vida apesar de não poderem ser apoiadas racionalmente.
A parte mais interessante do livro é sua tentativa de explicar a construção fundamental do imaginário coletivo televisual. A televisão nos fascina com suas imagens do mundo, algumas presumidamente reais –como, por exemplo, em uma reportagem de noticiário; nós podemos reconhecer outras imagens como fictícias, mas todavia nós as acolhemos em nossos mundos individuais. Há certa religiosidade nisso: Wunenburger escreve sobre o tipo de representação que experimentamos como uma manifestação dessacralizada do sagrado, na qual “não é mais necessário acreditar na presença do que está além da representação, já que a própria representação passa a ser um simulacro da presença”.
Em outras palavras (e aqui eu interpreto), no que se refere aos espectadores de TV, a imagem das torres gêmeas ruindo é mais real do que a visão de um tsunami cósmico em um filme de desastre?
“Enquanto a função da imagem religiosa consiste em fazer contato com um deus ausente, a imagem televisual se estabelece como a manifestação suprema”, escreve Wunenburger. Os heróis da televisão e seus feitos se transformam em uma espécie de mundo comum dentro do imaginário coletivo. Lembre que, há quatro anos, uma pesquisa revelou que um quinto dos adolescentes britânicos acreditava que Winston Churchill era um personagem de ficção, enquanto mais da metade achava que Sherlock Holmes era uma figura histórica real.
Ou, para ver o problema por outro ângulo, considere isso: houve um tempo em que os padres italianos se recusavam a batizar alguém que não tivesse o nome de um santo no calendário. Se você desse à criança o nome de Liberta ou Lenino, como acontecia na região Romagna, ela não seria batizada. Por décadas, nós vemos meninas recebendo nomes como Jessica ou Gessica, Samantha ou Samanta, Rebecca, ou mesmo Sue Ellen –que eu já vi mutilado na forma “Sciuellen”. Isso não tem nada a ver com dar às crianças nomes refinados –Selvaggia, Azzurra, Oceano– o que é típico de aristocratas, esnobes e ricos. A classe média nunca ousaria adotar nomes excepcionais. Jessica, Sue Ellen e Samantha, por outro lado, são nomes “reais”, sugeridos pelo imaginário coletivo televisual. Eles são mais reais que os nomes de santos, que agora parecem tão distantes de nós; são nomes de mitos que compõem nosso imaginário coletivo.
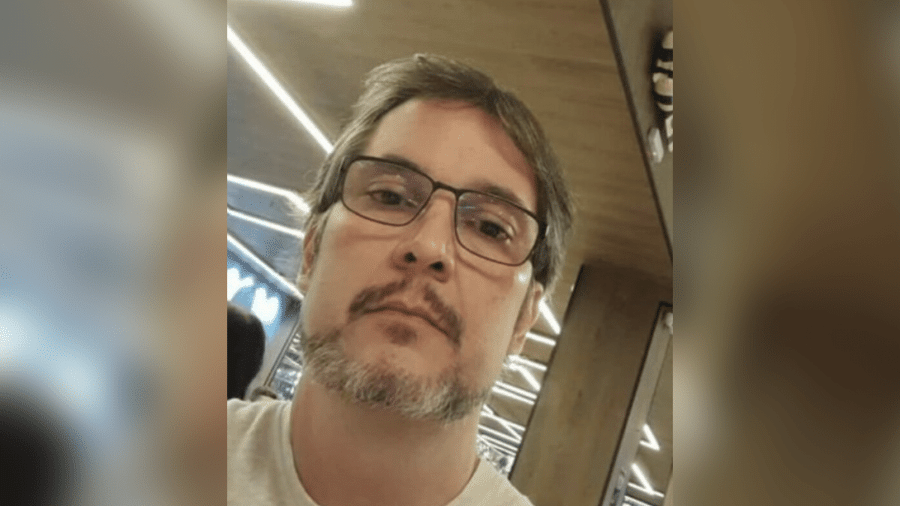



ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.