Arte em tempo de recessão é... bem, arte
Em outubro, quando as manchetes no Reino Unido destilavam pessimismo sobre os cortes pendentes nos gastos públicos, um eminente negociador de arte de Nova York com uma banca na Feira de Artes Frieze, em Londres, estava resmungando sobre negócios.
Parecia estranho, considerando que, diante dele, estava um mar de corpos: passavam multidões de hipsters de 20 e poucos anos e "almofadinhas" de meia-idade (muitos deles tentando se parecer com os hipsters de 20 e poucos). Os negociadores tentavam persuadir consultores de arte que estavam colecionando informações e fotografias para enviar à casa de clientes que poderiam (possivelmente, talvez, entraremos em contato, adoramos seu material, tchau!) estar interessados em comprar alguma coisa.
Mas não muito, realmente, de negócios, assim disse o eminente negociador de Nova York. Enquanto isso, o pessoal de Larry Gagosian se gabava de que algum colecionador desembolsara US$ 5,6 milhões por um Damien Hirst, algo que provocou muito ceticismo entre negociadores rivais. Os manipuladores do mercado de arte, incluindo promotores de feiras, estão fazendo eternas asserções sobre suas conquistas comerciais que devem ser tomadas com fé cega. Não obstante a recessão, o pessoal do mundo da arte insiste que pessoas inteligentes ainda pagam um bom dinheiro por uma grande arte (Mesmo? Inteligentes? Hirst?). Então, ocasionalmente, os negociadores ou mesmo os próprios artistas são descobertos discretamente puxando para cima os preços em leilão para manter esse cenário cor-de-rosa.
Quem vai saber a verdade? Aquele cético negociador de Nova York não era o único dissidente. Mas, daí, havia todos aqueles que ficavam boquiabertos, só olhando em volta. O mundo atual da arte, na forma de feiras de arte como a Frieze, bem como as bienais onipresentes e outros festivais, está, sem dúvida, tendo sucesso em alguma coisa agora.
Está tendo sucesso em fornecer formas relativamente baratas de distração suave para massas cada vez maiores de pessoas conscientes de moda, cujos orçamentos cobrem jantares no Pizza Express, mas não obras de arte.
Escapismo, em outras palavras.
Não é uma função menor da cultura, em tempos de aperto ou de luxo. O Reino Unido acabou dando às artes um corte tão profundo como outros sofreram, cerca de 15 por cento em quatro anos para as grandes instituições nacionais. Oficiais de artes, como Nick Serota do Tate, fez lamentos rituais posteriormente sobre a “mudança de maré” infeliz que isso causaria, mas o governo tinha, basicamente, comprado o argumento deles com antecipação _ que, diferentemente do bem-estar ou da atenção às crianças, a cultura gera renda. Faz entrar dólares com turismo. Representa boas relações públicas com o turismo, fato crítico para a economia do futuro. Da mesma forma, é crítica a matemática embaçada. Diretores de museus e assessores de imprensa, como os negociadores de arte, são também mestres da contabilidade criativa.
Mas, não importa quais sejam as cifras verdadeiras, o argumento do dinheiro claramente tem um trunfo sobre os pedidos lodosos de preservação da civilização para salvar a alma das pessoas ao tentar barganhar com políticos sitiados e parcimoniosos. Especialmente em tempos austeros, o argumento vencedor é que, tanto nos negócios como na propaganda, o show deve continuar.
Existe uma cultura específica a essa recessão, como houve com a Depressão, uma cultura na Europa e nos Estados Unidos, pelo menos; algo memorável e distinto que definirá uma época? Não querendo menosprezar o desconforto atual, mas uma recessão pode inspirar algo assim, em primeiro lugar?
Depressões, certamente. Guerras, definitivamente. Mas a recessão? Assumindo que a diminuição atual de ritmo e os números altos de desemprego são ameaçadores para muitas instituições de arte, especialmente as pequenas, sem recursos privados; e que é ruim para sabe-lá-quantos aspirantes a Jonathan Franzens e Sasha Waltes e Tacita Deans que decidem se desviar de carreiras nas artes porque têm que ganhar dinheiro, agora, e os empregos estão escassos.
Enquanto o povo de Wall Street ainda ganha dinheiro fácil, apenas uma pequena parte da pilhagem será repassada às artes na forma de coleção e obra de caridade. Então, uma recessão tem basicamente tanta importância para muitos artistas quanto é para o restante de nós.
Os anos 70 de recessão, por muito tempo zombados culturalmente, em retrospectiva produziram, no total, riquezas nos bastidores _ em cinema, teatro, música, televisão, moda, danças, literatura e arte. Mas então, além da crise do petróleo e a da inflação desenfreada, havia o Vietnã, o Watergate, a Guerra Fria e uma enxurrada de outros eventos de sacudir a alma para se somar ao clima daquele período de desilusão e inquietação, que, por sua vez, inspirou reações artísticas.
Sobre o presente, ainda é cedo demais para dizer. E talvez a pergunta esteja errada, para começar. Deixemos que a história selecione o que define esta era.
O que já pode ser dito é justamente que algumas coisas nunca mudam. Durante os anos 1930 e 40, os americanos esqueciam suas preocupações por algumas horas observando William Powell tomando martini como em “A comédia dos acusados”, Cary Grant cortejando Katherine Hepburn em “Núpcias de escândalo”, o Tarzan de Johnny Weissmuller pulando dos galhos de árvores e Esther Williams remando em volta da Aquacade. As pessoas se perdiam por uma tarde ou noite no Parque de Diversões em Palisades e Coney Island. Riram com Fibber McGee e Jack Benny e acompanharam o Cavaleiro Solitário no rádio. Uma plateia atribulada se deleitava em fantasias de riqueza indireta e em extravagâncias absurdas.
Isso é muito parecido com o menu cultural de agora, não? Excluindo filmes e “Mad Men”, o mundo da arte oferece sua própria visão das riquezas extravagantes e o entretenimento louco de Hollywood de outrora. Em vez de Esther Williams, é Jeff Koons. Em vez de Tarzan, Olafur Eliasson. Ao mesmo tempo, um universo de jogos de computador, smartphones e programas de reality show substituíram o Aquacade e o parque de diversões.
Como eu disse, escapismo.
Se isso tudo fosse arte produzida, o legado da era pareceria uma calamidade. Mas também seria deprimente contemplar as artes sendo sério e importante o tempo inteiro. Precisamos de Pierre Boulez e também de Tokio Hotel, Richard Serra e também de telenovelas turcas. Algum Waugh ou Daumier ou Tati moderno pode até mesmo estar capitalizando da deliciosa maneira que os britânicos e franceses jogaram para digitar respondendo à crise financeira deste outono, os britânicos inicialmente enrijecendo os lábios superiores com a conversa de que meio milhão de empregos serão perdidos e US$ 130 bilhões de gastos públicos cortados, os franceses lançando-se às barricadas, bloqueando aeroportos e refinarias, desligando postos de gás e escolas, apenas para desafiar a iniciativa do presidente Nicolas Sarkozy de que a idade de aposentadoria aumente de 60 para 62.
Como Ann Applebaum escreveu no Slate, “e assim todo mundo, de maneira incrível, se conformou com os estereótipos nacionais. Em uma era de suposta globalização ‘quando todos estão ficando supostamente mais parecidos _ ouvindo a mesma música americana, comprando os mesmos produtos chineses _ é espantoso o quão absolutamente britânicos continuam sendo os britânicos, e o quão completamente franceses são os franceses”, ela disse.
Certo. E essa é a maior verdade sobre a cultura agora: que apenas se tornou mais atomizada, e impossível generalizar a respeito, por causa das muitas forças globais que nos dizem que nos homogeniza hoje. Reagimos contra essas forças para afirmar nossas próprias identidades. E a cultura é a maneira como, consciente ou inconscientemente, expressamos essas identidades.
Recessão, inflação reincidente, o que seja, isso é a essência da arte hoje, e talvez para sempre.
Não há como escapar disso.










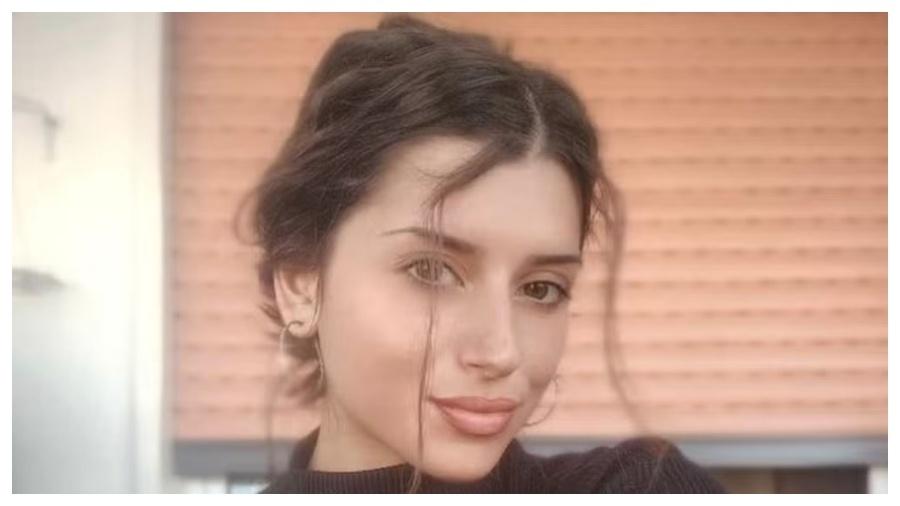



ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.