Tragédia familiar é símbolo do desespero que domina a Síria

Quando o corpo minúsculo de Alan Kurdi apareceu numa praia da Turquia, obrigando o mundo a compreender a dor dos refugiados da Síria, o menino de dois anos de idade era apenas um integrante de uma família em fuga, espalhada depois de quase cinco anos de conflito.
Enquanto um policial turco tirava o menino das ondas rasas no Mar Mediterrâneo, um dos primos adolescentes de Alan estava sozinho num ônibus na Hungria, fugindo dos combates em sua Damasco natal.
Uma tia estava em Istambul, amamentando um bebê, enquanto seu filho e sua filha eram explorados em turnos de 18 horas de trabalho para que a família pudesse comer. Dezenas de outros parentes tinham fugido da guerra na Síria ou estavam fazendo planos para fugir.
E poucas semanas depois que a imagem de Alan chocou o mundo em setembro, outra tia se preparava para fazer o que ela mesma tinha prometido evitar: embarcar com quatro de seus filhos na mesma viagem perigosa.
“Ou morremos juntos, ou sobrevivemos juntos e criamos um futuro”, disse a filha de 15 anos, concluindo, assim como centenas de milhares de outros sírios, que não havia volta.
Alan, cuja mãe e irmão se afogaram com ele, pertencia a um clã espalhado da minoria curda da Síria, há muito oprimida. Mas para a maioria de seus parentes mais próximos, essa identidade era secundária em relação ao caráter cosmopolita de Damasco, capital da Síria, onde cresceram. Eles mal falavam curdo, identificavam-se principalmente como sírios e não pertenciam a nenhuma facção.
Então, quando eclodiu a guerra e os laços políticos, étnicos e sectários se tornaram questões de vida ou morte, eles se viram sozinhos.
Entrevistas com 20 parentes, no Curdistão iraquiano, em Istambul, em cinco cidades alemãs e por telefone na Síria, contaram a história de uma família castigada por todas as partes envolvidas no conflito sírio: o governo sírio, o Estado Islâmico, os países vizinhos, o Ocidente.
Desde a morte de Alan, pelo menos mais cem crianças se afogaram no Mediterrâneo. Um milhão de refugiados e imigrantes entraram na Europa este ano, metade deles sírios, parte da diáspora de um país onde metade da população fugiu.
O pai de Alan, Abdullah, de 39 anos, às vezes se culpa, desejando que pudesse voltar no tempo e não entrar no barco. Ele estava tentando pilotá-lo em meio ao caos quando naufragou nas ondas.
Mas, mesmo para a irmã de Abdullah, Hivrun, em luto pelo sobrinho, o cálculo ainda é a favor de arriscar a vida de seus filhos para salvá-los. Semanas depois da morte de Alan, ela tentou mais uma vez partir para a Alemanha. E novamente, ela e os filhos subiram num bote de borracha.
Raízes curdas
O avô de Alan nasceu em Kobani, um enclave de maioria curda perto da fronteira com a Turquia no norte do país. Depois do serviço militar obrigatório, ele se mudou para Damasco em busca de trabalho e se estabeleceu no bairro de maioria curda de Rukineddine, nas encostas do Monte Qasioun. Ele abriu uma barbearia e se casou com uma mulher curda que se considerava, acima de tudo, damascena.
O casal teve seis filhos. Eles lembram que levavam uma vida modesta, pouco afetada pelas tensões entre o governo e os curdos. Passavam o verão colhendo azeitonas em Kobani, mas se enxergavam como crianças da cidade. A maioria saiu da escola depois do nono ano para trabalhar na barbearia da família.
Fátima, a filha mais velha, foi a primeira a emigrar. Em 1992, ela se mudou para o Canadá para se casar com um curdo iraquiano. Eles logo se divorciaram e ela criou o filho sozinha. Trabalhando à noite numa gráfica, ela chamou a atenção de uma chefe generosa.
“Ela disse: 'toda noite vou ensinar dez palavras em inglês para você'”, lembrou Fátima, conhecida como Tima. “O resto eu aprendi assistindo 'Barney' com meu filho.”
O inglês levou a um diploma de cabeleireira, empregos em salões de luxo e à cidadania --sucessos que possibilitaram as jornadas posteriores da família.
Com sua presença imponente, Fátima tornou-se fonte de aconselhamento, informação e dinheiro emergencial para seus irmãos. Quando irrompeu a guerra, ela se tornou a defensora mais ferrenha deles.
As ondas do conflito chegaram a Damasco na Primavera de 2011, quando Abdullah Kurdi estava começando uma família com sua esposa, Rihanna, uma prima de Kobani.
Quando os protestos inspirados por outras revoltas árabes começaram a se espalhar contra o governo do presidente Bashar Assad, Rihanna foi para Kobani para dar à luz Ghalib, irmão mais velho de Alan. Abdullah ia e voltava, trabalhando na barbearia da família em Damasco.
Alguns dos curdos simpatizavam com as manifestações inicialmente pacíficas, mas a maioria evitava se envolver.
O governo reprimiu a revolta em toda a Síria, e o bairro logo ficou sob pressão. As forças de segurança, que sempre prendiam as pessoas à revelia, ficaram mais nervosas e não demoraram em transformar curdos e qualquer um com ligações políticas em bodes expiatórios.
No início, os problemas eram estritamente econômicos. Kobani não oferecia muitos empregos. Abdullah foi para Istambul para trabalhar, enquanto sua esposa criava Ghalib, e mais tarde teve Alan. Uma cunhada, Ghousoun, viveu com a família por um tempo num estábulo de ovelhas; ela ganhava dinheiro vendendo roupas trazidas de Damasco.
Então surgiu uma nova ameaça. O grupo extremista Estado Islâmico rompeu com outros que lutavam contra Assad, declarou um Estado e começou a perseguir curdos e outras minorias.
As viagens de Ghousoun ficaram mais perigosas. Seu árabe sem sotaque esua roupa conservadora escondiam o fato de que era curda nos postos de checagem do Estado Islâmico, mas a tornava suspeita nos postos curdos.
Em setembro de 2014, o Estado Islâmico estava bombardeando Kobani. Chegou a notícia de que os militantes invadiriam o local. Famílias fugiram para a Turquia.
A família passou dias procurando um lugar para cruzar a fronteira, com centenas de outros curdos. Finalmente, o grupo tentou atravessar a fronteira. A polícia turca bateu na maioria deles, obrigando-os a voltar, mas uma mulher curda do lado turco escondeu a família de Ghousoun em seu estábulo.
Em Kobani, os olivais do clã curdo foram queimados, as casas foram destruídas e 18 parentes foram assassinados.
Muitos dos sobreviventes chegaram a Istambul, para uma nova rodada de provações.
Abdullah tinha conseguido enviar dinheiro de Istambul, onde trabalhava e dormia em uma confecção de roupas. Mas quando sua esposa e filhos finalmente se juntaram a ele, sentiu-se sobrecarregado, disse ele.
Os únicos apartamentos que eles podiam pagar ficavam tão longe do trabalho que ele teve que deixar o emprego, e começou a carregar sacos de cimento de 90 kg, ganhando US$ 9 por 12 horas de trabalho por dia.
Ghalib e Alan pulavam em sua cama toda manhã para se aconchegar ao pai, antes de ele besuntá-los com pomada para eczema, um ritual que adorava, muito embora se preocupasse com o preço do unguento.
“Eles ficavam em casa o dia todo”, disse, engasgando com as lágrimas. “A única coisa que esperavam era eu.”
Hivrun e seu marido foram os primeiros a levar as crianças para o mar. Eles levaram quatro filhos e um sobrinho adulto para Izmir, ao sul, o epicentro do contrabando na Turquia.
Os contrabandistas os colocaram em vans sem janelas, os deixaram num bosque para fugir da polícia, e depois os embarcaram num bote com destino a uma ilha grega a alguns quilômetros dali, mas o bote estava com o motor quebrado. Só quando Hivrun reclamou, a viagem foi abortada.
Na tentativa seguinte, eles já estavam no mar quando a água começou a entrar. Hivrun viu um barco da guarda costeira turca e gritou pedindo ajuda, e não parou nem mesmo quando outros passageiros, que preferiam arriscar, ficaram irritados e mandaram ela se calar.
O marido de Hivrun e as crianças mais velhas queriam tentar novamente. Hivrun se recusou. Ela levou as crianças de volta para Istambul, e seu marido e sobrinho partiram para a Grécia.
Logo depois, Abdullah tentou a viagem com a família. “Tínhamos decidido ir para o paraíso”, explicou Abdullah: uma vida melhor, na Europa ou no além.
Horas depois do afogamento de Alan, Abdullah contou a história, angustiado: o barco pequeno naufragou e virou poucos minutos depois de partir. Ele tentou segurar Ghalib e Alan, gritando para a esposa: “mantenha a cabeça dele fora d'água!” Mas os três se afogaram, um por um.
Na cobertura de mídia que se seguiu, a tia de Alan no Canadá, Fátima, entrou em ação.
De sua casa perto de Vancouver, ela atendeu a telefonemas da imprensa, culpando a burocracia do Canadá e a indiferença do mundo. Pouco tempo depois ela estava viajando pela Europa para defender os refugiados.
“Aquelas crianças nasceram durante a guerra", ela lembra de ter dito a António Guterres, o alto comissário da ONU para refugiados. “E elas morrem ainda durante a guerra.”
Sua mensagem crua ajudou a levar os países ocidentais --brevemente, pelo menos-- a abrirem as portas aos sírios.
Mas nada disso mudou os cálculos para os curdos.
Poucas semanas depois da tragédia, Abdullah estava sentado, rígido e pouco à vontade, num sofá do piano bar de um hotel banhado em ouro em Irbil, na região do Curdistão, no Iraque. O mar tinha lhe despojado de todos os símbolos de identidade: os documentos, os números de telefone de suas irmãs e até sua dentadura.
“Eu me tornei uma sombra”, disse Abdullah.
Depois que enterrou sua família em Kobani, em três sepulturas num terreno sem árvores, foi levado para Irbil pelo poderoso clã Barzani. Ele tinha resolvido a usar a atenção da mídia para ajudar outros sírios, e os Barzani estavam prometendo ajuda.
Sem entender muito curdo, ele compareceu corajosamente a reuniões com ricos e poderosos e entregou ajuda nos campos de refugiados, ficando mais feliz ao brincar com as crianças.
Mas muitas vezes ele parecia estar atordoado.
Ele ligou para sua irmã canadense, Fátima, que tinha ido buscar as coisas da família em Istambul. Ela o visitaria em seguida, e só de pensar ele ficou animado. Ele pediu que ela pegasse o cachorro de pelúcia favorito do filho, o único com a língua de fora, ou talvez o boneco Teletubby sem um olho, que ele tinha prometido consertar.
“Quero alguma coisa que tenha o cheiro deles”, disse ele.

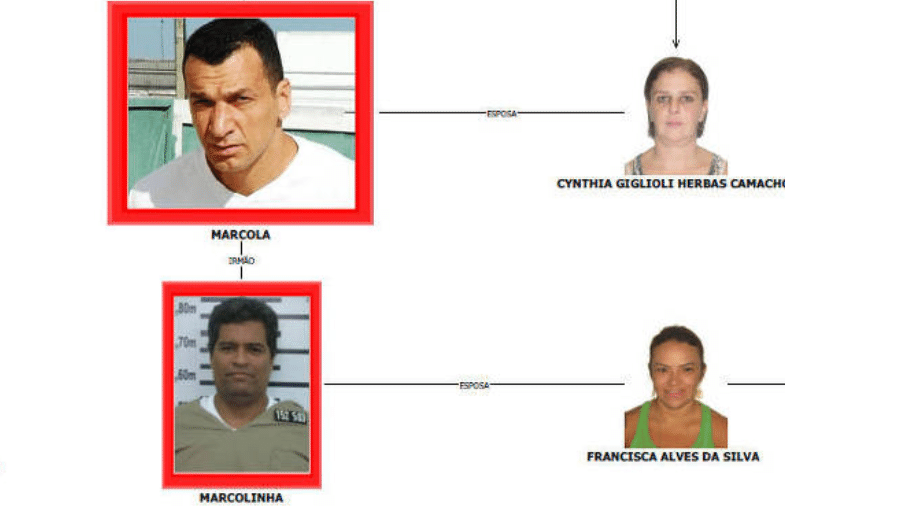




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.