Ambiente define resposta ao trauma, mostram estudos
Traumas psicológicos acometem dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo e ajudam a criar custos de pelo menos 42 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Mas o que exatamente constitui um trauma?
Tanto em termos culturais quanto médicos, há muito tempo os traumas têm sido considerados como resultantes de um evento único e reconhecível. A pessoa é testemunha ou vítima de um incidente devastador – e como o poeta Walter de la Mare colocou, "o cérebro humano funciona lentamente: primeiro, o golpe; horas depois, a ferida". O mundo volta mais ou menos ao normal, mas a pessoa não.
Em 1980, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais definiu trauma como "um fator de estresse que suscita sintomas significativos de angústia em quase todas as pessoas" – sendo universalmente tóxico, como um veneno.
Contudo, acontece que a maioria das vítimas de trauma – até mesmo sobreviventes de campos de batalha, tortura ou concentração – consegue retomar uma vida plena e normal. Esse fato possibilitou que surgisse uma visão com mais nuances do trauma – que passou a ser considerado menos um veneno e mais um agente infeccioso, um desafio que a maioria das pessoas supera, mas que pode derrubar quem já estava debilitado por traumas passados, pela genética ou outros fatores.
Agora, um conjunto significativo de pesquisas sugere que até mesmo essa visão é muito restrita – que o ambiente onde o indivíduo se encontra após o ocorrido, especialmente as reações de outras pessoas, pode ser tão crucial quanto o próprio evento.
A ideia foi demonstrada com clareza em duas apresentações feitas neste semestre na Conferência Interdisciplinar sobre Cultura, Mente e Cérebro da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Cada uma delas descreveu uma reformulação de um modelo clássico da experiência traumática – uma em ratos de laboratório, a outra em crianças-soldados.
Separação materna
No primeiro caso, Paul Plotsky, neurobiólogo da Universidade Emory, descreveu o que aconteceu quando ele modificou um dos modelos mais utilizados para abordar o modo como a separação materna afeta os ratos jovens.
O modelo foi criado no início de 1990 pelo próprio Plotsky, a fim de trazer consistência à maneira como a separação materna é estudada. Experiências anteriores mantiveram mãe e filhotes separados por uma a 24 horas; Plotsky alterou esses períodos para durações entre 15 minutos (a quantidade de tempo durante a qual as mães, em meio natural, costumam deixar os filhotes sozinhos enquanto conseguem comida) e 180 minutos (uma separação traumática, diz ele, porque em meio natural, isso significaria que "a mãe foi comida ou atropelada").
Após uma ausência de 15 minutos, as mães cheiravam e lambiam cada filhote, e em seguida reuniam e alimentavam todos, o tempo todo conversando com eles em trinados suaves, ultrassônicos. Após uma ausência de 180 minutos, no entanto, a maioria das mães emitia ruídos apavorados, muitas vezes pisando sobre os filhotes ou ignorando-os. Os filhotes também chiavam alto. E para o resto da vida, demonstraram reações fisiológicas e comportamentais exageradas em situações de estresse e desafiadoras.
Esse modelo de "15/180" se tornou rapidamente um padrão, gerando dezenas de estudos que mostram que as separações longas constituem roedores angustiados, que sofrem de mudanças permanentes na atividade dos hormônios do estresse, na estrutura do cérebro e muitas outras medidas. Essas descobertas se tornaram fundamentais para o modo como vemos os traumas e seus efeitos.
Então, cerca de cinco anos atrás, Plotsky estava refletindo sobre o pânico sentido pelas mães após as separações, quando, segundo ele, teve um insight. "Talvez ela ache que está em um ambiente inseguro", pensou ele, já que ela e os filhotes estavam em uma gaiola idêntica àquela da qual foram retirados antes.
O neurobiólogo, então, trocou a gaiola simples por uma complexa: um labirinto criado para testar as habilidades de movimentação dos ratos. A família de ratos separados passou a se reunir não no local de onde a mãe havia sido levada, mas na antecâmara de um conjunto de oito quartos.
Agora, mesmo após ausências de 180 minutos, as coisas corriam bem. A mãe farejava os filhotes, conferia
alguns quartos, então levava todos para um deles e cuidava e dava de mamar aos filhotes, da mesma maneira como faria depois de uma ausência de 15 minutos. Mesmo se Plotsky separasse a família de novo no dia seguinte (ou mesmo por oito dias sem intervalo), ela fazia a mesma coisa, geralmente escolhendo um novo quarto.
Mas será que os filhotes ainda sofriam? Na verdade, não. Poucos mostraram quaisquer sinais de trauma, imediatos ou duradouros. Uma separação que teria sido considerada permanentemente traumática se mostrou rotineira simplesmente porque a mãe, tendo um ambiente seguro mais variado no qual podia receber seus filhotes, passou a se sentir mais calma e com o controle da situação, algo que ela passou para os filhotes. Assim, os traumas pareciam não se originar da separação por si só, mas do sabor do reencontro.
De todo modo, isso aconteceu com ratos em um laboratório. Será que o mesmo deve acontecer com os seres humanos?
Crianças-soldados
Um estudo realizado com ex-crianças-soldados no Nepal sugere que sim. Desde 2006, o Dr. Brandon Kohrt, psiquiatra e antropólogo médico da Universidade George Washington, acompanhou crianças nepalesas que retornaram a suas aldeias depois de servirem junto aos rebeldes maoístas durante a guerra civil de seu país, de 1996 e 2006.
Todas as 141 crianças que participaram do estudo, que tinham de 5 a 14 anos quando se juntaram aos rebeldes, passaram por experiências de violência e outros eventos considerados traumáticos, além de terem sido separadas da família. No entanto, o seu estado de saúde mental no pós-guerra não mostrou estar atrelado a sua exposição à guerra, mas à forma como elas foram recebidas pela família e pela aldeia.
Nas aldeias onde as crianças foram estigmatizadas ou marginalizadas, elas sofreram níveis altos e persistentes de estresse pós-traumático. Mas nas aldeias em que foram bem recebidas e prontamente reintegradas (geralmente através de rituais ou convenções voltadas especificamente para isso), elas não vivenciaram mais sofrimento psíquico que outras crianças da mesma idade que nunca tinham sido levadas para a guerra. As consequências nocivas permanentes de ter sido uma criança-soldado, ao que parece, vinham não da guerra, mas do conflito e isolamento social posterior.
Essa constatação encontra respaldo em estudos sobre soldados americanos que retornam para casa: o transtorno do estresse pós-traumático é mais frequente entre os veteranos que não conseguem se reconectar com pessoas acolhedoras e novas oportunidades.
Será, portanto, que o evento traumático é caracterizado por mais do que apenas o evento em si – o evento acrescido de algum aspecto crucial do ambiente social que tem potencial tanto de amenizar quanto de intensificar os seus efeitos?
Alguns cientistas duvidam que uma redefinição como essa esteja adequada. Carol Ryff, psicóloga da Universidade de Wisconsin que realiza pesquisas sobre o tema da resiliência, diz que as novas descobertas não redefinem o trauma, pois apenas confirmam que "certas condições maximizam a probabilidade de aliviar os traumas".
Outros, porém, como a neurocientista e escritora Sandra Aamodt, coautora de "Bem-vindo ao seu cérebro" e "Bem-vindo ao cérebro do seu filho", dizem que os estudos sugerem que não existe um trauma a ser aliviado até que o ambiente social que o indivíduo encontra posteriormente ao evento desempenhe seu papel.
Para Plotsky, essa nova visão reforça o argumento em favor das intervenções sociais que têm demonstrado atenuar os efeitos de experiências traumáticas – especialmente programas pré-escolares para crianças que correm risco de trauma, assim como treinamento oferecido aos seus pais.
Não temos como desfazer as coisas ruins que acontecem. Mas talvez possamos reformular o ambiente que as sucede. Como Aamodt coloca, essa abordagem "tem a vantagem significativa de ser algo possível".
*David Dobbs é autor do livro inédito "Orchids and Dandelions" – "orquídeas e dentes-de-leão", em tradução literal –, que explora as raízes genéticas e culturais do temperamento
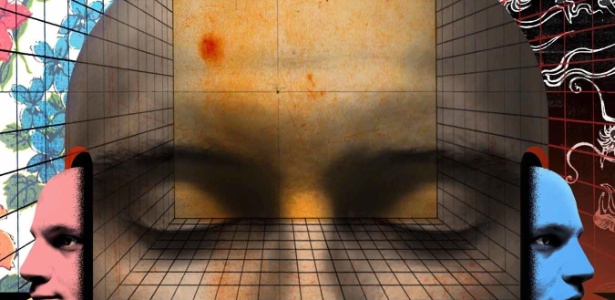






Seja o primeiro a comentar
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.