Infectologista acompanhou aids no Brasil e vê semelhanças com o coronavírus

A infectologista Ana Beatriz Sampaio, do serviço de atendimento especializado às pessoas com HIV do Hospital Escola São Francisco de Assis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), trata de pacientes soropositivos desde o início da pandemia da aids, nos anos 1980, e agora está envolvida com a de covid-19 — causada pelo Sars-coV2, ou novo coronavírus.
Ela diz que, se no passado não se conhecia quase nada sobre a causa da aids, hoje sabe-se muito pouco sobre a covid-19. "Naquela época, a grande maioria dos pacientes soropositivos adoecia e morria de aids. Não havia tratamento 100% eficaz, assim como não há para covid-19. A cloroquina se mostrou ineficiente em estudos pequenos. Outros, mais robustos, estão em andamento. E há pesquisas sendo feitas com vários medicamentos."
Coincidentemente, uma das drogas que se revelaram promissoras no tratamento do novo coronavírus é um antirretroviral chamado lopinavir-ritonavir, que pertence a uma classe de medicamentos usados no combate ao HIV. "Os resultados iniciais foram razoáveis, mas é preciso provar a eficácia, ou não, em mais estudos."
Mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela UFRJ, Ana Beatriz fala na entrevista abaixo da época em que a aids era tratada como "câncer gay"; do preconceito enfrentado pelos homossexuais na aids, e pelos idosos na pandemia do covid-19; e da obstinada corrida, em ambos os casos, pela descoberta de uma vacina.
UOL — Você sempre tratou de pacientes com aids, e hoje atende também infectados pelo Sars-CoV2. Dá pra comparar?
Ana Beatriz — Nós, infectologistas, observamos algumas semelhanças. Em linhas gerais, tínhamos/temos que enfrentar uma doença sobre a qual não sabíamos nada (aids anos 80) ou sabemos muito pouco (covid-19 agora).
Na início da pandemia da aids, não se fazia ideia do que causava a doença, nem mesmo se era infecciosa. Chamavam de "câncer gay". Assim como hoje, nós cuidávamos dos pacientes paramentados como "astronautas".
A situação só melhorou no meio médico depois que isolaram o vírus (HIV), em 1983, e descobriram como se dava a transmissão. Mas fora dali, o medo e o preconceito permaneceram por muito tempo, o que levava à discriminação e ao isolamento social dos pacientes. Em alguns casos, isso acontece até hoje.
Na pandemia do HIV/aids, o preconceito era em relação aos gays. Hoje, é com os idosos: há quem defenda que eles, por já estarem "mais perto do fim", podem ser sacrificados prioritariamente para dar lugar a pessoas mais jovens nos hospitais. Esse preconceito pode interferir negativamente na recuperação do paciente? Apressar sua morte, por exemplo?
Preconceito só atrapalha. E sim, pode matar. O paciente que é chamado de "velho", e se sente socialmente excluído, precisa ter uma força psicológica extra.
A aids, há até pouco tempo, era "doença de gay", ou de "gente promíscua" — o tom era carregado de julgamento moral. Só que, aí, as estatísticas mostraram que a infecção pelo HIV pode atingir todo mundo, assim como a covid-19. Em ambos os casos, o vírus não escolhe raça, gênero, idade, opção sexual.
Contudo, ainda há bastante preconceito, especialmente entre os pouco informados. Informação salva vidas. A boa informação, claro.
Do começo da pandemia da aids até agora, muitos termos em relação à doença tornaram-se politicamente incorretos.
Sim. Chamar um soropositivo de "aidético" passou a ser antiético e preconceituoso. O termo foi proscrito do dicionário médico. Quando a infecção pelo HIV desencadeia alguma doença, dizemos que a pessoa tem aids. Da mesma forma, a expressão "grupo de risco" deixou de ser usada entre pessoas informadas — foi substituída por "comportamento de risco".
A palavra "grupo", nesse caso, aludia a uma comunidade de pessoas pré-dispostas a contrair o vírus — e não se trata absolutamente disso. O risco está ligado ao comportamento. Qualquer pessoa está sujeita a contrair o HIV.
Desde o começo da pandemia da aids, nos anos 1980, os cientistas buscam a cura. Assim como agora, em relação à covid-19, a palavra "vacina" parece ter um poder mágico.
Nos anos 1980 e início dos 90, a maioria dos pacientes soropositivos adoecia e morria de aids. Não havia tratamento 100% eficaz, e a doença era considerada fatal. Em 1996, uma combinação de medicamentos ("coquetel") mostrou-se altamente eficiente, e então passamos a ter pessoas portadoras do vírus que não desenvolvem a doença. Os medicamentos impedem que a imunidade do organismo caia, e assim eles permanecem assintomáticos ou soropositivos.
Mas até chegarmos ao ponto de tratar a infecção pelo HIV/Aids como uma doença crônica, controlável — como a diabetes ou a hipertensão arterial — houve muita pesquisa, inúmeras tentativas com drogas diversas, nenhuma exatamente "certeira".
Até 1996, os pacientes faziam esquemas terapêuticos subótimos, que era o que tínhamos. Hoje, cada medicamento do coquetel age em uma fase do ciclo de vida do vírus na célula, diminuindo a chance de ele "resistir ao ataque". É batalha mesmo. E, assim como na pandemia de Sars-coV 2/ covid-19, ainda se busca a vacina. É o método mais eficaz de prevenção contra doenças transmissíveis.
De acordo com as pesquisas, o grupo em que se verificou o maior crescimento de transmissão do HIV nos últimos anos foi o dos HSH (homens que fazem sexo com homens) jovens, que têm entre 17 e 24 anos. Você acha que os jovens de hoje lidam melhor com a possibilidade de contrair o vírus, ou eles simplesmente a ignoram?
Os jovens não têm noção do que foi a aids no passado, da gravidade. Isso explica, em boa medida, a despreocupação deles. Além disso, é amplamente sabido que a aids não mata mais. O portador do HIV que segue corretamente o tratamento não desenvolve a doença, nem oferece risco ao parceiro sexual.
A principal questão agora é que a infecção requer tratamento contínuo e regular, a princípio "para sempre", ou até que surja algum medicamento ou vacina que erradique o vírus. Isso pode parecer simples mas nem sempre é. Tomar medicamentos diariamente, e na hora certa, exige disciplina.
Testes feitos na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio, revelaram que um dos medicamentos usados no combate ao HIV se mostrou mais eficaz contra o novo coronavírus do que a cloroquina. É isso mesmo?
Uma das promessas em estudo é um inibidor de protease chamado lopinavir/ritonavir, que já foi bastante usado no tratamento da infecção pelo HIV (hoje, há medicamentos mais bem tolerados). Mas, por enquanto, ainda não existe tratamento para a covid-19 com eficácia comprovada. A cloroquina se mostrou ineficaz em vários estudos pequenos. Há muitas pesquisas robustas em andamento, é preciso aguardar os resultados.
Todos esses estudos têm de ser conduzidos com rigor clínico, epidemiológico e estatístico, para não corrermos o risco de causar mais mal do que bem. Não dá para generalizar o que deu certo em 30, 50 pessoas. Pode ter sido por acaso e não fazer o mesmo efeito se administrado em milhões de infectados.
Nos anos 1980, as perspectivas em relação à cura do HIV eram bastante pessimistas. Não chegamos ainda à vacina, mas hoje a aids não mata mais. Como você avaliaria as expectativas em relação à covid-19?
Apesar de serem vírus e doenças totalmente diferentes, a covid-19 compartilha com a aids a possibilidade de cura ou controle baseados nos progressos da ciência. Não sabemos se isso será possível em relação ao novo vírus, mas foi com o HIV/aids e com outras doenças virais agudas, como a influenza, o sarampo e as hepatites A e B, que hoje podem ser prevenidas com vacinas.
A esperança se apoia nisso, na ciência, nos medicamentos e vacinas em estudo. Pode levar um tempo, mas não é impossível chegar lá. O melhor nesse momento é sermos otimistas.





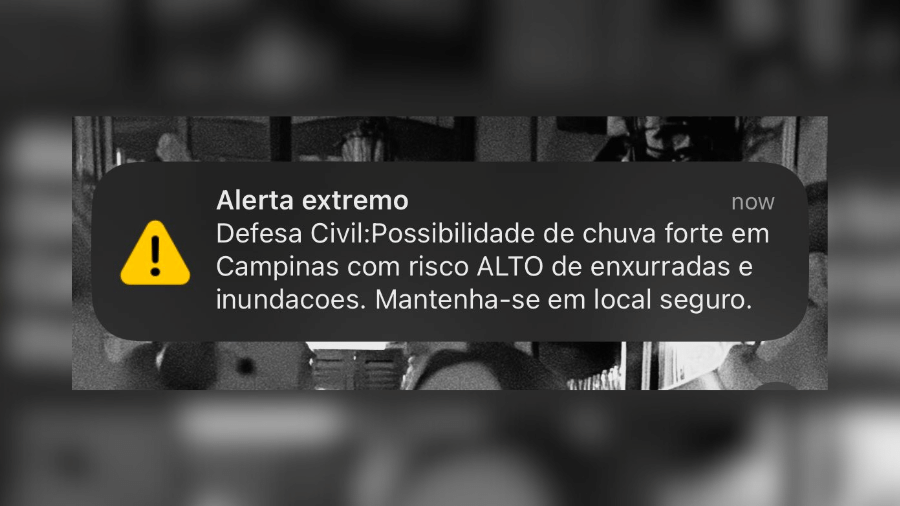













ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.