Deslizamentos de terra mataram 202 pessoas nos últimos 20 anos na Grande SP

Duzentas e duas pessoas morreram em virtude de deslizamentos de terra na Grande São Paulo nos últimos 20 anos, o que resulta em uma média de dez casos por ano. O levantamento, feito com base em dados compilados pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), abrange o período de 1997 a 2016. No ano passado, foram 20 mortes, o dobro da média das últimas duas décadas.
Os deslizamentos de terra acontecem predominantemente no período chuvoso, na primavera e no verão. O solo encharcado aumenta os riscos de incidentes graves em áreas de encosta ocupadas indevidamente por famílias, que, em época de crise econômica, fogem do aluguel.
O alto índice pluviométrico deste mês de janeiro provocou deslizamentos na Grande São Paulo, como o que prejudicou a circulação de trens na linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), entre a capital paulista e Caieiras, sem registro de mortes.
A marca elevada de 2016 deve-se a casos ocorridos em março e concentrados em três municípios: dez em Mairiporã, oito em Francisco Morato e dois em Itapevi.
Os deslizamentos provocados pela chuva colocaram Francisco Morato e Mairiporã entre os cinco municípios com mais mortes na região nos últimos 20 anos. Morato aparece em quarto, com 16 mortes no acumulado das duas décadas. Mairiporã está logo atrás, com 15.
A capital São Paulo é a cidade com maior número absoluto de mortes em deslizamentos na região nos últimos 20 anos. Foram 59 casos, mas os últimos quatro aconteceram em 2011. Já são cinco anos sem morte alguma.
São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é o segundo município com mais mortes. Foram 21 desde 1996. Como na capital, o último caso não é recente -- aconteceu em 2010.
Mauá, também no ABC, aparece como o terceiro município com mais mortes. Foram 17 óbitos em deslizamentos, sendo que os últimos dois ocorreram em 2014.
A alta quantidade de casos em 2016 veio depois de quatro anos com números abaixo da média. O ano de 2012 foi o único da série sem morte alguma. Em 2013 e 2014, que foram menos chuvosos, houve duas mortes em cada ano. Em 2015, os deslizamentos na região fizeram nove vítimas.
No período de duas décadas, 2016 só não teve mais mortes em deslizamentos de terra do que outros três anos: 2000, que teve 27 casos; 2009, com 22; e 1999, com 21.
Ocupações migram para encostas nas periferias
Segundo o geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos, ex-diretor do IPT e autor do livro "Enchentes e deslizamentos: causas e soluções", as mortes em decorrência de deslizamentos de terra estão em parte relacionadas com um movimento crescente nos extremos de municípios da região metropolitana de São Paulo: de ocupação de terrenos de alta declividade, principalmente por populações de baixa renda.
"Os avanços nas periferias da Grande São Paulo acontecem cada vez mais sobre as áreas de topografia acidentada. Isso se dá, sobretudo, ao norte, a sudeste e a sudoeste da região metropolitana", aponta o geólogo. Ele frisa que não há municípios na região metropolitana de São Paulo "totalmente livres da instalação de áreas de risco de deslizamentos".
A ocupação da franja acidentada das periferias é motivada, pontua o geólogo, pelo fato de ser área mais barata e, portanto, acessível a populações mais pobres, pressionadas pela necessidade de fugir do aluguel e morar com custos mais módicos.
"O problema é que essas famílias geralmente constroem suas casas sem nenhuma assistência técnica, em terrenos normalmente sujeitos a escorregamentos e solapamentos", explica. Os solapamentos são quedas de margens de córregos.
Erro ao construir: "geram instabilidade"
O geólogo diz que as técnicas construtivas utilizadas nas encostas são as mesmas empregadas em áreas de topografia mais plana, ou seja, são impróprias para locais íngremes.
Em síntese, diz o especialista, os construtores fazem um corte abrupto no morro, para produzir um platô, e com a terra removida formam um aterro na parte inferior do terreno, com o objetivo de apoiar parte da edificação. "Assim desestabilizam o morro, com o corte, e geram outra instabilidade, com a criação do aterro", alerta.

De acordo com Rodrigues dos Santos, uma das formas de construir com estabilidade e segurança em áreas íngremes é executar uma laje armada de concreto apoiada sobre pilares cravados no terreno. É sobre essa laje que se erigirá a casa. A técnica evita tanto o corte abrupto no morro quanto o aterro e não altera, portanto, a constituição natural da encosta, minimizando riscos.
Grande SP tem quase 1,2 mil áreas de risco
O UOL também fez um levantamento da quantidade de áreas de risco de deslizamento de terra nos 39 municípios da Grande São Paulo. Estudos das prefeituras disponíveis na página da Defesa Civil do Estado na internet indicaram 1.175 áreas de risco na região, mas novos dados informados por três prefeituras (Embu das Artes, Francisco Morato e Suzano) elevaram a quantidade para 1.189.
O levantamento considera as áreas com risco médio, alto e muito alto e está sujeito a imprecisões porque alguns estudos das prefeituras são antigos, feitos há mais de dez anos.
São Paulo e São Bernardo do Campo, que são os municípios com mais mortes em deslizamentos nos últimos 20 anos, também encabeçam a lista dos que têm mais áreas de risco. Osasco, Taboão da Serra e Francisco Morato vêm na sequência.
Marcado pelas tragédias de março passado, Morato teve 67 interdições de imóveis nos primeiros 26 dias do ano, de acordo com a prefeitura.
Sem ações preventivas, "estaremos enxugando gelo"
Áreas de risco são sujeitas a desastres provocados por fenômenos naturais ou favorecidos pela ocupação desordenada do solo. Nos níveis de risco alto e muito alto, trincas no solo e na moradia indicam o perigo de haver destruição em caso de chuva intensa e prolongada.
O geólogo Rodrigues dos Santos avalia que a quantidade de áreas de risco na região "é muita coisa" e deverá crescer se não houver uma revisão na estratégia de gestão: "Enquanto não tivermos ações preventivas, que ajam sobre as causas, estaremos enxugando gelo".
Para ele, a questão real não diz respeito à Defesa Civil, encarregada de monitoramentos e ações emergenciais, mas às secretarias de desenvolvimento urbano dos municípios, encarregadas de formular as políticas públicas. "Todo trabalho de desativação de uma área de risco é muito mais lento que o processo de formação de novas áreas", analisa.

Quando remover famílias de área de risco?
A decisão extremada de transferir famílias que vivem em áreas de risco deve estar apoiada na observação de critérios técnicos. Rodrigues dos Santos explica que, em áreas de risco alto e muito alto e com condições naturalmente adversas, é sempre obrigatória a realocação de famílias.
Nas áreas de risco alto e muito alto que são passíveis de ocupação humana, o geólogo diz que uma conta da relação entre custo e benefício deve ser feita na hora de se decidir pela manutenção ou não da ocupação. Se as obras para a estabilização do terreno e das edificações forem mais custosas do que a realocação em outra área, deve-se preferir essa última.
Quando as áreas de risco são classificadas como de médio e baixo risco, normalmente as famílias devem ser mantidas no local, mediante a execução de obras de consolidação de baixa complexidade.
"A gente veio para cá porque precisa", diz jovem mãe
Na mais recente ocupação do Jardim Santo André, localizada em encosta do núcleo Lamartine, periferia de Santo André, no ABC Paulista, vivem, há pouco mais de um ano, 70 famílias, somando cerca de 300 pessoas. É uma área de risco alto e médio de deslizamento, segundo relatório de 2014 do IPT.
O Jardim Santo André é assim: até onde a vista alcança é uma sequência sem fim de barracos raquíticos de tez vermelha, mal equilibrados sobre as encostas íngremes dos morros e as várzeas úmidas dos córregos. Aqui e ali se observam também conjuntos de edifícios altos e baixos, de cores claras, construídos pelo governo paulista. A área, de topografia acidentada, totaliza 1,47 milhão de metros quadrados e divide-se em seis grandes núcleos: Cruzado, Campineiros, Missionários, Toledanos e Dominicanos, além do Lamartine.
O terreno de todo o Jardim Santo André, incluindo o da nova ocupação do Lamartine, pertence à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), responsável pela execução de projetos habitacionais do governo estadual paulista, e foi adquirido em 1977, para implantar programas habitacionais populares. Acabou em parte ocupado e se transformou numa das maiores áreas de favelas da Grande São Paulo.

"Quando chove, a casa fica cheia de barro"
Os que vivem ali compartilham uma mesma história: resolveram arriscar a ocupação depois de ficarem desempregados e não terem mais dinheiro para arcar com o aluguel. "A gente veio para cá porque precisa", justifica-se Jéssica Regina Maciel, 21, que é mãe da Alessandra, 6. Ela e o marido tinham perdido os empregos. "Fizemos um mutirão e cada um forneceu sua madeira [para os barracos]."
O barraco de madeirite da família da Jéssica fica junto de um corte inclinado no morro (talude) sem nenhuma vegetação no solo. "Quando chove lá atrás, minha casa fica cheia de barro", lamenta.
O casal vizinho, Paulo César Silva, 23, e Maria de Fátima Pinto da Silva, 27, planeja a construção de um muro de arrimo no fundo do terreno, para conter a encosta e proteger as casas. Mas como não sabe se vai continuar ou não ali vai adiando as melhorias no imóvel e no entorno dele.
O primeiro filho do casal é que não pôde esperar e hoje está com 10 meses, acomodado nos braços do pai de olhos bem abertos, à entrada da casa. "A gente melhorou bastante de vida depois que saiu do aluguel", comemora Paulo, que pagava mensalmente R$ 700. Ele hoje está empregado, enquanto a mulher cuida do filho pequeno.
"Não tenho condições de pagar o aluguel"
A percepção de que a vida melhorou depois da mudança é outro dado que une todos ali. E isso apesar de visíveis problemas. Quando chove, como na tarde da última quinta-feira (26), quando a reportagem do UOL esteve no local, além do risco de algum possível deslizamento, o piso de dentro de todas as casas fica encharcado, pois a água entra por uma ou outra fresta do telhado sem laje e das placas de madeira que formam a parede.
Também não impede o sonho com a casa própria o fato de o movimento de usuários de droga em busca da próxima dose ser constante na porta de casa, muitas vezes seguidos de perto pela polícia e o risco de algum confronto.

Daniela Sabino, 30, que trabalha como faxineira e chegou à ocupação faz três meses, se diz satisfeita, assim como a amiga Vanderléa Cardoso, 36, vigilante desempregada, há um ano no local.
"Não tenho condições de pagar aluguel. Se pagar, não tenho para outra coisa", desabafa Daniela, que veio de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, com suas duas filhas. Ela ganhava R$ 880 e pagava R$ 600 de aluguel. Pela construção do seu barraco de madeirite, incluindo material e mão de obra, desembolsou R$ 2 mil. "Para mim hoje está bom também, porque não pago aluguel", concorda Vanderléa.
A vinda para a ocupação no Lamartine também ajudou o casal Carlos Eduardo dos Santos Sabará, 34, e Elzilene Aguiar Rodrigues, 33, a se reerguer. Carlos Eduardo tinha ficado desempregado em 2015, a prestação do automóvel começou a atrasar e, quando o veículo quebrou, não teve dinheiro para o conserto.
O problema de saúde de Elzilene, afastada do trabalho num supermercado devido a problemas na coluna, complicou as finanças da casa ainda mais.
"Aquele dinheiro que era revertido para o aluguel agora dá condições melhores para a minha família", ressalta Carlos Eduardo. "A gente até está comendo melhor." E o automóvel hoje está quitado. "E ainda compramos uma geladeira nova", comemora a mulher.

Risco à permanência
O UOL questionou a CDHU sobre o futuro das 70 famílias da ocupação. Em nota, a companhia respondeu que os ocupantes "não estão entre os cadastrados no início do programa" de urbanização local e que estuda um modo de reintegrar a posse da área, mas sem detalhar como fará isso.
Apenas informa que, no Jardim Santo André como um todo, conta com três ações de reintegração de posse em andamento para que áreas sejam desocupadas e tornem-se possíveis obras nos locais.
A CDHU diz que "os ocupantes podem se cadastrar nos programas habitacionais da prefeitura [de Santo André] ou se organizarem em associação e se cadastrar no programa Minha Casa Minha Vida - Entidades".
A Prefeitura de Santo André informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a Defesa Civil do município monitora preventivamente todas as áreas de risco da cidade, durante todo o ano, e que esse trabalho "garantiu que Santo André não registrasse mortes em decorrência de deslizamentos ou inundações desde 2013".





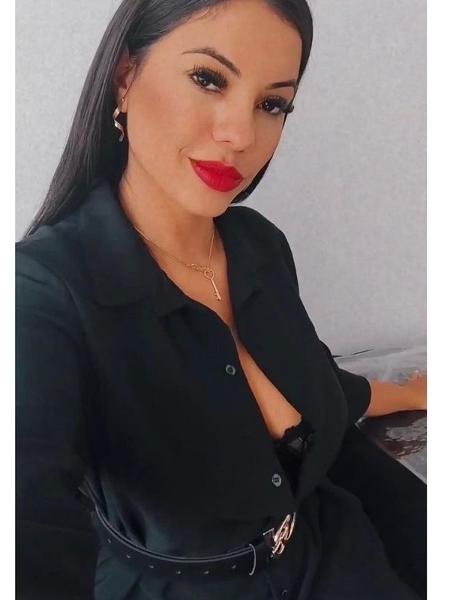





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.