Comissão de Mortos e Desaparecidos pode acabar em 2020

Em entrevista à DW, advogado que assumiu comando do órgão sob Bolsonaro defende mudanças no regimento interno e diz que deve entregar relatório final sobre vítimas da ditadura até o final do primeiro semestre.
Nomeado por Jair Bolsonaro (sem partido) como presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) em julho do ano passado, o advogado Marco Vinícius Pereira de Carvalho afirmou em entrevista exclusiva à DW Brasil que os trabalhos de reconhecimento e localização de corpos das vítimas da ditadura militar, conduzidos pela comissão, devem ser encerrados até o final do primeiro semestre deste ano.
"A previsão é até o final do primeiro semestre a gente conseguir entregar o relatório final para o presidente Jair Bolsonaro", afirmou ontem. "A gente tem que tratar esse tema como uma questão de reconciliação do país com os seus próprios cidadãos e com a própria história. E não dá para ficar eternamente batendo nessa mesma tecla."
Carvalho nega que mudanças no regimento interno publicadas na última quinta-feira (16) pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sejam uma tentativa de esvaziamento das atividades da comissão, criada pela Lei 9.140, de 1995, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
O advogado argumenta que as alterações servem para eliminar "impropriedades" praticadas por gestões anteriores, como a emissão de atestados de óbito. "Eu, enquanto presidente dessa comissão, sou obrigado a cumprir a lei", justifica.
Familiares de vítimas do regime militar dizem que a decisão de Carvalho demonstra um desconhecimento das leis e da justiça de transição no Brasil. Mas o presidente da comissão especial acredita que os familiares ficarão satisfeitos com o resultado final dos trabalhos.
"Nós daremos uma resposta, e penso que as pessoas terão uma espécie de satisfação a ser dada a elas. Elas terão, de uma certa medida, os seus anseios comprovados ali", afirma.
DW: Em nota de esclarecimento sobre as alterações efetuadas no regimento interno da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) fala em "irregularidades" nas atividades da comissão especial, como a emissão de atestados de óbito de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. A justificativa é que é necessária a presença de médicos para atestar a morte, como previsto na Lei de Registros Públicos. No entanto, aquela lei não especifica casos de desaparecimentos forçados. Como fica então essa questão?
Marco Vinícius Pereira de Carvalho: A atribuição da comissão especial é munir os familiares de instrumentos para eles poderem proceder às retificações dos assentos de óbito. E aí vem a questão terminológica, por exemplo, atestado médico, de fato, é um ato médico. Desculpe, o atestado de óbito é um ato médico. Nenhum membro da CEMDP que não é médico pode proceder à emissão de atestado médico.
Soa muito estranho que uma procuradora regional, que até então era presidente da comissão especial [referência a Eugênia Gonzaga], com pleno conhecimento das implicações que há, se arvore como um cidadão ou qualquer posição que você tenha a fazer atos médicos. Então, equivocadamente, foi colocada na resolução anterior, que foi revogada, a prerrogativa de assinar atestados de óbito. Isso não existe. Isso não pode ser feito por quem quer que seja, a não ser médicos.
Mas a lei também diz que, na ausência de um médico, duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte podem atestar o óbito.
Pronto, você acabou de dizer, então, mais uma situação em que ela não se enquadra. Ela presenciou a morte, ela é próxima da pessoa? Não é. Então, o atestado de óbito não é o caso.
Mas como fica a questão de um desaparecimento forçado?
A comissão vai simplesmente reconhecer que essa pessoa faleceu, vai reconhecer como mortas e desaparecidas políticas. Simplesmente isso. A comissão está aí para isso: reconhecer as mortes e desaparecimentos dadas as circunstâncias que envolvem o procedimento que está sendo apurado. Daí a você se arvorar e emitir atestado de óbito é outra coisa totalmente diferente. Não podemos confundir essas coisas.
A Corregedoria Geral da Justiça deu um parecer favorável à Resolução 17 criada pela gestão anterior e que definiu a retificação do atestado de óbito como uma atribuição da comissão. O texto também foi aprovado pela Advocacia Geral da União (AGU). Ou seja, houve um aval dessas instituições para essa prática dentro da comissão.
O parecer jurídico que é feito pela consultoria jurídica, que notadamente é integrada por membros de várias áreas da AGU, não é vinculante. Já começa daí. Como o próprio nome diz, é uma consultoria, ela opina sobre isso. O que eu vejo nessa resolução é a prevalência da vontade pessoal da ex-presidente [da comissão]. Tanto é que a mesma consultoria jurídica, agora com outros membros do Ministério [da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos], concordou com a substituição que nós fizemos e com as pontuações que nós fizemos apontando as incongruências entre a resolução e a lei. Aquela resolução foi aprovada em dezembro de 2017, e a consultoria jurídica tinha um outro olhar sobre a situação. Na minha concepção, não fizeram a análise como deveria ter sido feita. Por uma questão básica de hierarquia de normas, a resolução não pode ficar inovando a lei.
Como uma resolução passa ao largo da Lei de Registros Públicos, que é obedecida no país inteiro, para atribuir a pessoas que não têm essa atribuição de emitir atestado de óbito?
Esse é um ponto muito importante. Isso causa insegurança jurídica. Essas pessoas chegam aos locais e poderiam muito bem os tabeliães rejeitarem esses atestados de óbito, porque não foi emitido por um médico. Essa é uma insegurança jurídica causada por esse tipo de situação ideológica e também causa riscos aos familiares. O fato de a comissão dar uma declaração de que o cidadão é reconhecido como desaparecido ou como morto tanto faz, não muda nada. Sim, vamos parar, porque isso é ilegal.
A Comissão Nacional da Verdade emitiu em 2014 duas recomendações, a 27 e a 7, que destacam a necessidade de manutenção da busca por corpos e também a alteração de registro da causa de óbito de vítimas do regime militar para reconhecer a responsabilidade do Estado. Isso foi considerado no processo de mudança do regimento da comissão especial?
Quem instituiu a comissão foi um ato da Presidência da República, e o destinatário dessas recomendações é o Presidente da República. Quem tem que analisar essas recomendações e decidir se acata ou não é o chefe do Poder Executivo. Não eu como presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Essa é uma situação de análise política que a Presidência tem que fazer. Não é uma determinação, é uma recomendação. A gente acata ou não. E essa análise, volto a dizer, é política. Mas nós vamos acelerar os nossos trabalhos, inclusive, temos poucos processos para terminar de analisar no âmbito da nossa comissão. Faltam cinco ou seis que ficaram pendentes e estavam parados há muitos anos.
Por que eu digo isso? E aí tem uma outra impropriedade que vinha sendo cometida: abrir procedimentos de ofício. A lei 9.140 estabeleceu um prazo para os familiares requererem o que bem entendessem na época. Depois de 25 anos, começar a abrir processos de ofício não me parece que a lei dá essa prerrogativa, principalmente, sem o interesse manifesto do familiar. Essa é uma outra coisa que nossa resolução nova está corrigindo. Nós abriríamos análises de requerimentos mediante solicitação dos familiares. Só que essas solicitações estavam restritas a um certo período.
O senhor se refere ao prazo de 120 dias estabelecido a partir da publicação da lei e que foi reaberto em 2002 e, depois, em 2004. E depois veio ainda a recomendação da Comissão Nacional da Verdade.
Pois é, mas são recomendações que a gente cumpre ou não. Cabe uma análise política. O que é muito importante falar é que a gente tem que tratar esse tema como uma questão de reconciliação do país com os seus próprios cidadãos e com a própria história. E não dá para ficar eternamente batendo nessa mesma tecla. É indenizar quem tem o direito, reconhecer quem ter que ser reconhecido e a gente encaminhar para encerrar esse assunto. Até porque a própria lei 9.140 traz uma previsão de encerramento da comissão.
O artigo 13 diz que a comissão, após a análise dos requerimentos, encaminhará relatórios circunstanciados de suas atividades ao Presidente da República, que encerrará os seus trabalhos. Então, ela nasceu, como tudo o que ocorre no nosso mundo, com um prazo para começar e um prazo para terminar. Apesar de esse prazo não estar estabelecido literalmente na lei, a lei me diz qual é a circunstância que me encaminha para o final. E essa circunstância é a análise dos requerimentos. A minha obrigação como presidente, e eu trago isso para os meus colegas conselheiros, é elaborarmos o relatório final e entregarmos para o presidente da República.
Então, a tendência é encerrar os trabalhos. Há uma previsão para esse encerramento?
A previsão é até o final do primeiro semestre desse ano a gente conseguir entregar o relatório final para o presidente. Aí a decisão se vai encerrar ou não é com o Presidente da República. Nós, enquanto comissão, queremos cumprir estritamente o que está dito na lei. Se não houver nenhum percalço, como pedido de vista e outras situações que podem ocorrer numa reunião colegiada, acredito que sim, será no final do primeiro semestre.
Se chegarem novos requerimentos de familiares, eles serão atendidos ou serão rejeitados?
Se chegarem novos requerimentos, eles serão considerados intempestivos, porque não observaram o prazo previsto na lei. E aí não cabe a mim. Vai caber ao Congresso Nacional decidir se querem mais 200 dias ou 50 anos de prazo. Eu, enquanto presidente dessa comissão, sou obrigado a cumprir a lei.
E como ficará o dever legal da comissão de localizar os corpos?
Enquanto a comissão estiver em funcionamento, faremos o que for necessário para localizar, inclusive, com essas demandas que ocorrem via Ministério Público, e isso não vai parar. O nosso comitê continua funcionando, o trabalho de identificação continua acontecendo. E, agora, o nosso compromisso é dar uma resposta a essas famílias. O grosso do nosso trabalho em relação à localização está muito concentrado nos grupos de trabalho de Perus e do Araguaia e nas demandas do Ministério Público.
A mudança de regimento foi votada internamente?
Foi votada. Foi inclusive objeto de longa análise pelos conselheiros. Na penúltima reunião, anterior a novembro, o colegiado resolveu analisar de maneira mais detida, retornamos à análise da consultoria jurídica. Depois de toda essa reflexão, lá pelos idos de agosto, trouxemos para a discussão novamente e, em novembro, houve análise do colegiado.
Essa decisão de mudança do regimento está sendo colocada erroneamente como uma interferência do Presidente da República. O presidente [Jair Bolsonaro] nem soube do que estava acontecendo aqui. Isso foi iniciativa deste presidente. Eu, como jurista que sou, também sou procurador, da carreira da advocacia pública, eu analisei as incongruências e impropriedades que encontrei fazendo uma ponderação de valores entre a lei e o que estava na resolução e fiz a proposta para que a resolução do conselho fosse adequada à lei. É uma análise meramente jurídica.
Críticos do governo falam que a atual gestão quer criar uma nova narrativa sobre a ditadura militar e esvaziar o trabalho da comissão especial. Qual é o seu posicionamento em relação a isso?
Isso não existe, criar uma nova narrativa ou modificar a atuação. Os reconhecimentos que tiverem que acontecer vão acontecer. Todos aqueles que tiverem os seus direitos comprovados serão preservados. Mas não podemos, sob a bandeira de querer corrigir uma dívida que o país tem com quem quer que seja, subverter a lei. Isso causa insegurança jurídica. A gente não pode submeter essas famílias a isso. Por exemplo, teve uma situação de concessão de indenização cujo requerimento ficou parado por 17 anos na comissão. A Eugênia [Gonzaga, ex-presidente da comissão especial] mandou impulsionar sabendo de pareceres desfavoráveis da consultoria jurídica e mandou pagar R$ 100 mil para essa família. Os conselheiros que chancelaram isso serão responsabilizados.
Qual é a sua opinião pessoal sobre o período da ditadura militar?
O regime militar estabelecido no Brasil foi um capítulo importante da nossa história, mas eu não costumo demonizar os militares nesse sentido, porque cometeram excessos. E também o outro lado cometeu excessos. A gente tem que analisar esse período como um período de guerra interna. A partir do momento que você parte para o uso de armas, ninguém tem razão. Todos os envolvidos nesse contexto perderam a razão no momento em que apelaram para esse tipo de instrumentos.
O bom para a humanidade é que haja paz. A partir do momento em que você, pelo diálogo, não consegue vencer os percalços que surgem e você parte para uma situação de guerra, você acaba perdendo a razão. Logicamente, os que foram mais afetados foram aqueles que não tinham o monopólio das armas. Se você tem de um lado o Estado com o monopólio da vingança, tem mais força para lidar com os cidadãos que se insurgirem contra ele. Foi isso o que aconteceu.
O senhor acredita que, ao final dos trabalhos da comissão especial, os familiares de mortos e desaparecidos estarão satisfeitos?
Acredito que sim. Na circunscrição daquilo que a comissão foi concebida para fazer, com o encerramento dos trabalhos e com a análise de cada processo que foi feito, nós daremos uma resposta e penso que as pessoas terão uma espécie de satisfação a ser dada a elas. Elas terão, de uma certa medida, os seus anseios comprovados ali.







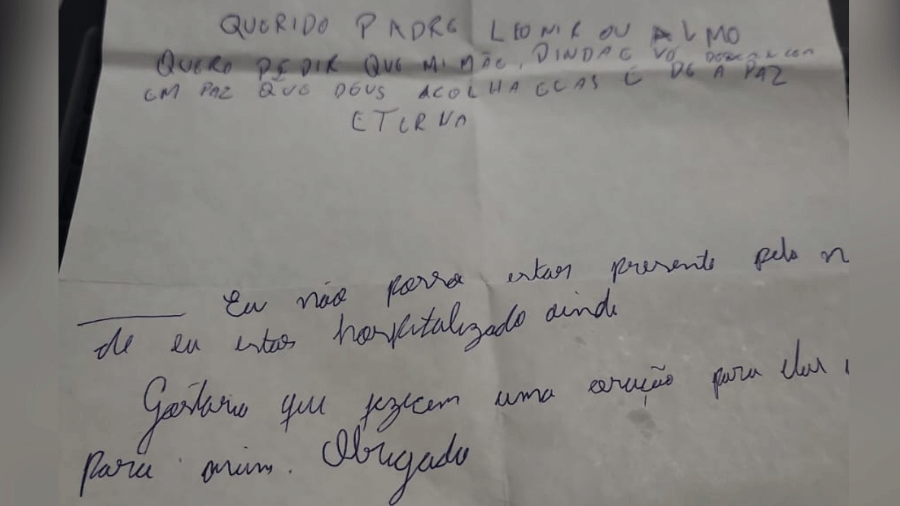
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.