Massacre do Carandiru foi um marco, mas cadeias ainda não recuperam presos, diz Drauzio Varella
O assassinato de 111 homens sob custódia do Estado no episódio que ficou conhecido internacionalmente como o massacre do Carandiru representou um marco na história do sistema penitenciário paulista e provocou uma série de mudanças de gestão até hoje vigentes. Por outro lado, o episódio, que começa a ser julgado em São Paulo na segunda-feira (15), passadas mais de duas décadas, nem de longe representa que os egressos desse mesmo sistema possam, um dia, ser devolvidos à sociedade melhor que ao deixarem as grades.
Leia mais
- Condenado a 623 anos por massacre, coronel Ubiratan foi absolvido e assassinado em 2006

- Para MP, trabalho é convencer jurados de que 'bandido bom' não é 'bandido morto'

- Presos colocam fogo em colchões em protesto no 'Carandiru gaúcho'

- Cepollina se diz feliz, lamenta que "assassino de Ubiratan esteja impune"

- Matança no Carandiru motivou formação de facção criminosa

A opinião é do cancerologista e escritor Drauzio Varella, membro da equipe médica da extinta casa de detenção, implodida em 2002, e autor de dois livros sobre o universo da unidade: “Estação Carandiru”, de 1999, e “Carcereiros”, de 2012. Atualmente, ele dá expediente uma vez por semana na Penitenciária Feminina do Estado, em prédios que foram mantidos do antigo presídio.
O Tribunal do Júri do caso, que começaria na segunda-feira (8) no Fórum Criminal da Barra Funda (zona oeste de São Paulo), teve o início adiado para 15 de abril, após uma jurada, com problemas de saúde, ser dispensada.
Segundo o juiz José Augusto Nardy Marzagão, a equipe médica que dá suporte ao júri constatou “impossibilidade” da jurada de permanecer no tribunal. Por conta disso, o Conselho de Sentença (corpo de jurados), sorteado nesta manhã, teve de ser dissolvido.
O médico conversou com a reportagem do UOL na clínica dele no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, nessa sexta-feira (5). Ele se disse incrédulo sobre a possiblidade de que seja faça justiça ante um massacre daquela proporção não apenas pelo longo tempo decorrido, como pelas responsabilizações até hoje oficialmente apontadas.
Segundo a denúncia do MPE (Ministério Público Estadual), 84 policiais militares foram responsáveis pelas mortes de 111 homens durante a tentativa de conter uma rebelião entre dois grupos de presos do pavilhão 9 no dia 2 de outubro de 1992. Desse grupo, cinco PMs já morreram –entre os quais, o comandante da operação no dia da invasão, o coronel da reserva Ubiratan Guimarães, assassinado em 2006.
“Os principais implicados nessa história toda estão fora de qualquer tipo de punição. Estão livres. Pergunto: quem é o culpado? Quem foi que disse: ‘Invada’? Afirmar que o coronel [Ubiratan] tomou essa decisão por conta própria é abusar da inteligência da gente”, afirmou o médico, que, sem citar nomes, concluiu: "O coronel recebeu ordem de alguém, esse é o verdadeiro responsável e, infelizmente, nunca vai ser identificado. Nem tem mais como se fazer justiça –será que se esses policiais vão levar a culpa por toda essa tragédia engendrada lá atrás por alguém que se escondeu no anonimato?”, indagou.
“O Carandiru era um intruso no meio da cidade”
Indagado sobre as mudanças que observou no sistema nesses últimos 20 anos e seis meses após o “massacre”, como gosta de enfatizar –“que outro nome dar a uma batalha onde é 111 a zero?”, justificou --, o médico apontou a redução dos casos de tortura nos presídios paulistas, o fim das rebeliões como havia até o Carandiru e a mudança de política na administração presidiária, que tirou da Polícia Militar a atribuição de lidar com os conflitos nas unidades.
"O massacre foi um marco, as mudanças vieram mesmo em consequência dele. A violência nas cadeias naquela época era muito comum; a tortura fazia parte da rotina, e de repente um acontecimento dramático trouxe à luz essa violência que o Estado era capaz de realizar”, disse. “E toda a imprensa, inclusive a internacional, ficou sabendo. Porque até ali, o Carandiru era um intruso no meio da cidade, a gente fingia que não existia e ele veio à luz."
O médico, que esteve no Carandiru em uma palestra para travestis horas antes de começar a rebelião no pavilhão 9, lamentou que o Estado não dispusesse de negociadores de conflitos à época. Hoje, apontou, a realidade é outra.
“Pelo menos aqui em São Paulo, temos agora os [GIRs] Grupos de Intervenção Rápida, com agentes penitenciários melhor preparados para essas situações de distúrbios. Na época não havia, era a PM que resolvia, e resolvia à moda deles –os policiais não eram treinados para resolver diplomaticamente, mas para reprimir. Era o que se esperava deles”, disse.
Por outro lado, uma ordem maior dentro do sistema hoje também é atribuída ao médico como responsabilidade dos próprios presos. “Os presos chegaram à conclusão que isso atrapalharia o controle deles do sistema. E hoje na secretaria temos um grupo de pessoas que entende disso; mais unidades foram construídas, mas isso é um saco sem fundo”, declarou, sobre a falta de vagas e as condições precárias das cadeias.
Comissões de Direitos Humanos no Brasil ignoram presos
Em meio a um extenso debate sobre direitos humanos no Brasil com a eleição do deputado e pastor Marco Feliciano (PSC-SP) para a Comissão de Direitos Humanos do Congresso, Drauzio apontou que as polêmicas envolvendo declarações do parlamentar –sobretudo quanto a negros e homossexuais –estão ainda na superfície de questões que ele considera tão ou mais graves.
“A questão dos presos não é tratada nas comissões de direitos humanos. Não há, em geral, interesse no Brasil em se abordar isso. Vejo com a maior preocupação essa revolta toda com a CDH: estão projetando um homem sem nenhuma expressão todos os dias nas páginas dos jornais, em uma discussão da qual ele só se beneficia, mas com aspectos que estão na superfície desse tipo de autoritarismo”, disse. “De que maneira podemos melhorar a situação carcerária do país para proteger a própria sociedade? E as pessoas que não precisam estar, mas estão na cadeia? E a legislação das drogas, mais medieval até que a de países como Bolívia e Colômbia?”
Para o médico, a sanha popular do “bandido bom, é bandido morto”, da qual o próprio MPE receia com que os jurados se influenciem no julgamento que começa nesta segunda (8), faz parte do que ele chama de “hipocrisia social” que acomete governantes e sociedade.
“Fingimos que não enxergamos o que estamos fazendo com os presos. Queremos que a polícia prenda os marginais e os jogue dentro da cadeia –e em cadeias lotadas, não adequadas para seres humanos. Porque cadeia no Brasil não é para recuperar ninguém: é para fazer sofrer”, disse o médico, interessado no assunto desde 1989.
“E como só pobre vai para a cadeia, vai ficando assim. O dia em que a cadeia tiver classe média, ou gente de maior poder aquisitivo, ou envolvidos em roubalheiras no sistema público, aí muda."
“O que o Estado faz pelo egresso? Nada”
A repórter quis saber: na avaliação do médico, quando os presos deixarão o sistema melhores do que quando entraram –ou seja, após o cumprimento de suas penas?
“Ah, eu não vou ver. Disso eu tenho certeza. Acho que você também não vai ver”.
Se ele já viu algum personagem assim? O escritor disse que sim, mas em condições muito peculiares: “Quando o sujeito sofre muito e não quer mais passar por aquilo de jeito nenhum; quando tem uma mulher forte do lado dele, que, quando ele sai, dá uma última oportunidade a eles e o sujeito se ajeita, ou se que se tornam evangélicos, são acolhidos por uma igreja e conseguem um emprego quando deixam a cadeia, o que é minoria. Mas o que o Estado mesmo faz para receber essas pessoas de volta e fazê-las encontrar um caminho é praticamente nada.”











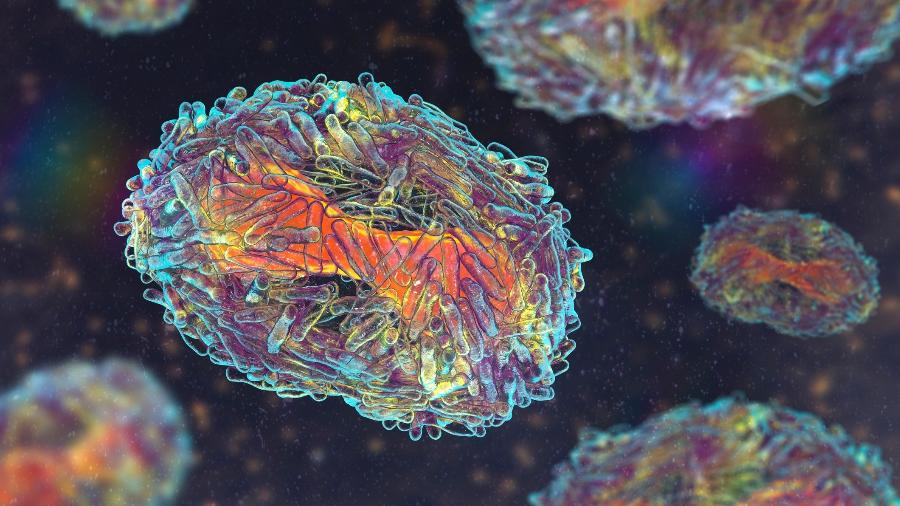





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.