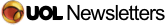Intervenção no Mali aumenta chance de Hollande recuperar popularidade
 David Revault d'Allonnes e Thomas Wieder
David Revault d'Allonnes e Thomas Wieder
Uma aparição de alguns minutos na televisão, rosto fechado e tom solene, tudo no Palácio do Eliseu. Em 8 de janeiro de 1996, na noite da morte de François Mitterrand, foi necessário tudo isso para que Jacques Chirac finalmente se impusesse como o presidente de todos os franceses.
Dezessete anos depois, também oito meses após a eleição presidencial, mas desta vez no início de uma guerra que ninguém esperava, talvez agora tenha surgido o que permitirá que François Hollande assuma de uma vez por todas o papel de chefe do Estado. Como uma volta aos princípios básicos.
A França, por decididamente não conseguir romper com suas raízes monárquicas, sempre volta para lá. Claro, foi a eleição que o fez presidente. Mas, como a Constituição da 5ª República pretende fazer dele quase um monarca, é normal que a eleição possa não ser o suficiente. Então se voltam às circunstâncias que, desde sempre, fizeram com que um rei fosse plenamente um rei: a morte de seu antecessor, a liderança de uma guerra, a diplomacia.
No caso de François Hollande, a decisão de intervir militarmente no Mali é de uma capital importância simbólica. Nenhuma arte parece mais estranha ao atual presidente do que a da guerra. Ele tem um horror visceral por conflitos, detesta dar ordens e prefere a argumentação ao combate. É um conciliador, não um provocador. Alguém que acredita que a autoridade se conquista pela pacificação, e não pela agressão.
De tanto ser retratado como "frouxo", inclusive por seus colegas, de tanto passar a imagem de uma figura indecisa, às vezes deliberadamente para esconder o jogo, Hollande acabou tornando inimaginável a ideia de que ele mesmo pudesse se envolver em um conflito armado. No entanto, foi o que ele fez. "Eu não tinha nenhuma dúvida sobre o fato de que Hollande tomaria decisões nesse caso, assim como em outros", acredita uma figura influente do governo. No entanto, a vantagem política que o presidente pode esperar é proporcional ao efeito de surpresa.
"A rotina virou de ponta-cabeça", afirma um conselheiro do chefe do Estado. "A sensação é de que a agenda pode ter sido transformada para sempre". Essa observação não vale simplesmente para o clima que tem predominado nos últimos dias no palácio.
Na história do mandato de Hollande, esse fim de semana certamente marcará um ponto de virada. Ironia da história: enquanto o chefe do Estado muitas vezes tentou, nos últimos meses, adaptar sua relação com seu primeiro-ministro, sua comunicação ou o ritmo de suas viagens, foi a ofensiva de uma coluna de rebeldes islamitas que o instalou sem querer no papel de presidente.
Mas a guerra não é tudo. Dois outros acontecimentos neste fim de semana contribuíram para polir de uma maneira singular a imagem presidencial: o acordo sobre o emprego fechado na sexta-feira (11) e a manifestação organizada no domingo (13) pelos opositores ao casamento gay. Para François Hollande, cada um desses eventos foi um teste.
Quando candidato, ele disse repetidamente que, uma vez no Eliseu, ele organizaria uma grande negociação entre o patronato e os sindicatos visando um "acordo histórico" sobre o mercado de trabalho. Muitos encararam com ceticismo, de tão imunizada que a França parecia contra a cultura do diálogo social.
A conclusão de um acordo, em tal contexto, é uma vitória política para François Hollande. Ela valida a aposta fundamental de seu mandato. Ela contraria aqueles que viam como ingenuidade sua "confiança" na democracia social, tantas vezes repetida. No mesmo dia em que o presidente assumiu seu papel de comandante de guerra, ele ganhou suas credenciais de regente do diálogo social.
Esses dois Hollandes estão sintetizados na liderança das operações em torno do "casamento para todos". O presidente pretendia demonstrar uma vontade consensual, recebendo as categorias envolvidas, contra ou a favor da lei, a ponto de parecer estar em cima do muro ao falar em "liberdade de consciência" dos prefeitos. Mas agora que centenas de milhares saíram às ruas para protestar, ele está mais inflexível do que nunca.
No início deste ano, era urgente para o chefe do Estado se recuperar. Como lembra a pesquisa de popularidade realizada antes do Natal pelo Centro de Pesquisas Políticas do Sciences Po (Cevipof) publicada na terça pelo "Le Monde", sua imagem se degradou.
Em outubro de 2011, 33% dos franceses o consideravam "preocupante". Hoje são 60%. Na época, 42% das pessoas entrevistadas acreditavam que ele tinha "estofo de um presidente da República". Hoje são 33%. A constatação é cruel: a eleição de 6 de maio, longe de reforçar sua estatura presidencial, a colocou em dúvida.
Os três acontecimentos do fim de semana, desse ponto de vista, podem parecer "providenciais". Eles ocorrem num momento em que sua popularidade, após semanas de queda livre, está se estabilizando. O momento é favorável para um início de reconquista da opinião pública.
Isso não quer dizer que a partida esteja ganha. Isso porque esse momentum triplo esconde muitas armadilhas. As cerimônias de homenagem aos soldados mortos em combate, os riscos corridos pelos reféns, as perspectivas de encalhe no Mali podem reverter as opiniões.
A medalha do acordo sobre o emprego, enquanto não ocorre a "consolidação em projeto de lei" ambicionada pelo Eliseu, logo revelará seu reverso, com a oposição dos sindicatos não signatários, a CGT e a FO, e uma revolta à esquerda da esquerda, ou até do Partido Socialista.
Por fim, os debates sobre o "casamento para todos" no Parlamento, que prometem ser difíceis e longos, podem revelar opiniões divididas. Algo que não seria muito bom para um presidente que apostou em uma "sociedade pacificada". O conflito inesperado do fim de semana foi uma "surpresa divina" para o Eliseu. Agora resta controlar seus efeitos políticos em longo prazo.
Tradutor: Lana Lim