Massacre de Paraisópolis: 'Ninguém precisa de polícia que mata', diz mãe
Maria Cristina Quirino, 45, diz que confiava na polícia antes de ter o filho encurralado e morto em um baile funk na zona sul de São Paulo, ao lado de outros oito jovens. Hoje, cinco anos após o episódio que ficou conhecido como "Massacre de Paraisópolis", ela dedica parte da vida a buscar justiça e acompanhar as histórias de outras vítimas de violência policial nas periferias.
A percepção dela sobre o papel das forças de segurança no Brasil, principalmente nas favelas, foi mudando nos dias seguintes à morte de Denys Henrique Quirino da Silva, 16. Após enterrar o filho, Cristina viu pessoas culpando a ela, ao garoto e aos bailes funks pelo ocorrido.
"Tentaram criminalizar o meu filho, criminalizar a cultura do funk, da juventude periférica. Isso eu não permito. As pessoas têm que olhar para o descaso do estado, entender por que o baile funk acontece, lutar para que a juventude tenha direito à cultura", afirma. Nascido na Brasilândia, Denys deixou a mãe e três irmãos. Ele trabalhava com limpeza de sofás e frequentava bailes funk porque gostava de dançar, lembra a família.
Nasci e cresci na favela, então eu tinha essa visão de que a polícia era o que a gente precisava, o que ia ajudar a gente, o que ia proteger a minha família. Eu tinha uma verdadeira admiração por essa corporação. Achava que eles faziam um trabalho honesto. Mas aí eles matam o meu filho e ainda vêm querendo me culpar pela morte do meu filho? Isso não vai entrar nunca na minha cabeça.
Maria Cristina Quirino, ao UOL
Parte de um coletivo que faz manifestações para manter a memória dos nove jovens mortos viva, Cristina conta que um dos maiores medos dela é de que os 12 policiais réus no caso sejam inocentados. O processo segue em fase de audiências de instrução cinco anos após o crime. Ela cita o caso da menina Ágatha, morta no Rio de Janeiro em 2019, e de Johnatha de Oliveira Lima, baleado nas costas na zona norte do Rio em 2014, como exemplo de crimes contra jovens de favelas nos quais os autores não foram presos.
No caso de Ágatha, o PM acusado de ser o autor do disparo foi inocentado em júri popular. No de Johnatha, o PM foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. "Os advogados são bem treinados para falarem que a gente é morador de favela, que lá tem crime organizado, que o lugar é hostil, que a polícia já vai na defensiva. Falam que a comunidade é que vai oprimir, que vai hostilizar eles, mas a sociedade precisa entender que o que acontece é o contrário", afirma.
A polícia que mata
No ano do massacre de Paraisópolis, 777 pessoas foram mortas por policiais no estado. Em 2023, este número foi de 442, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Entre dezembro de 2023 e os primeiros meses de 2024, a Operação Verão, uma das mais letais na história recente do estado, deixou 56 mortos na Baixada Santista.
Ninguém precisa de polícia que mata. A polícia era pra fazer segurança pública, mas não está fazendo isso. Fala para mim: ela faz segurança para quem? Porque pra nós não serve.
Maria Cristina Quirino, ao UOL
"Morri junto com o meu filho"
Cristina conta que não reconhece mais a pessoa que era antes de dezembro de 2019. Para ela, a vida acabou no momento em que Denys morreu. Desde então, ela se expôs e reviveu a dor do massacre em entrevistas, manifestações e nas cinco audiências judiciais realizadas até agora. "É preciso que as pessoas saibam o que eu penso e entendam meu sentimento de revolta", explica, ao lembrar que "todos os dias são dias de tortura" para ela.
Só vou me calar quando eu estiver no caixão, no túmulo, porque morta eu já estou. Estou morta desde que assassinaram o meu filho. Eu morri junto com o meu filho. Mas só que eu estou aqui, de pé, para honrar a memória dele enquanto eu estiver neste plano.
Maria Cristina Quirino, ao UOL
Em Paraisópolis, os dias após o massacre também não são os mesmos, lembra o pastor Igor Alexsander, uma das lideranças religiosas da região. "Ainda está acontecendo muita coisa. A polícia invade direto a favela. Infelizmente, depois daquele dia, isso se intensificou", afirma. Segundo ele, uma rotina de "medo" foi intensificada no local há cinco anos. Paraisópolis é a maior favela de São Paulo, com 58.527 moradores. Nenhum dos mortos no massacre morava na comunidade.
Mudar a mentalidade da própria periferia sobre os bailes funk também é um desafio, afirma o pastor. Ele também trabalha na tentativa de conscientizar fiéis sobre o papel cultural e social dos funks na favela. "O baile acontece. Não é algo que se organiza, o baile apenas acontece, é um movimento cultural de vários jovens, é um agregado de pessoas", afirma.
Defesa de policiais diz que "não há evidência direta ou indireta" de culpa. Em nota, o advogado Fernando Capano, que representa oito dos réus do caso, afirmou que "as mortes daqueles jovens ocorreram apesar da ação policial e não em razão dela". Ele alegou que os agentes estavam "no exercício de controle e dispersão de grande distúrbio" na ocasião.
O UOL buscou a Polícia Militar de São Paulo para saber se o órgão quer se pronunciar sobre o assunto. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Relembre o Massacre de Paraisópolis
Nove pessoas morreram durante cerco policial na favela de Paraisópolis em 1º de dezembro de 2019. As vítimas estavam no baile da DZ7 e tinham entre 14 e 23 anos.
Jovens ficaram esmagados em viela após serem cercados pela polícia. Segundo o documento do Ministério Público ao qual o UOL teve acesso, estima-se que entre 5.000 e 8.000 pessoas tenham sido encurraladas pelos PMs em uma viela após tentarem fugir de golpes de cassetetes, gás de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo e "efeito moral".
Necrópsia mostrou que pulmões das vítimas não conseguiam fazer movimentos básicos de respiração. A acusação aponta que a dimensão da viela (com entrada de 2,78 metros e saída de 1,71 metro) ajudou na asfixia dos jovens encurralados. Uma das vítimas teve um traumatismo na coluna.

PM alegou que reagia a ataque feito por criminosos. Na ocasião, agentes afirmaram que suspeitos "dispararam contra viaturas e correram em direção ao pancadão". Os PMs também alegam que os jovens foram pisoteados, versão questionada por testemunhas de acusação na Justiça.
Doze policiais militares foram acusados pelas mortes dos jovens, mas aguardam trâmites da Justiça em liberdade. Entre eles está a comandante da operação, tenente Aline Ferreira Inácio. Um dos soldados que virou réu foi afastado após aparecer no vídeo de um youtuber americano contando que comemora mortes de suspeitos com "cerveja e charutos".
Cinco audiências de instrução foram realizadas até o momento. A primeira delas ocorreu em julho de 2023 e a próxima está marcada para 31 de janeiro. Na ocasião, testemunhas de defesa dos policiais devem ser ouvidas.




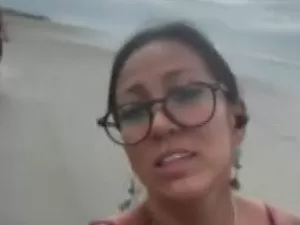




Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.