Com 'Júlia', Kucinski se consagra como genial romancista da ditadura

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail
Bernardo Kucinski foi meu professor na graduação. Ensinou-me o be-a-bá do jornalismo econômico há mais de 20 anos. Tinha fama de ranzinza. E era.
Nas aulas, falava pouco. A voz pouco se animava e a boca raramente sorria. Poderia ter outra postura entre os colegas, mas, para nós, jovens e quase sempre imberbes alunos de 19 ou 20 anos, a rabugice não passava despercebida. Lembro de uma amiga me cutucar durante uma aula para comentar, incrédula: "você fez ele rir!"
A atitude de Bernardo contrastava com a do professor que dividia sala com ele nos anos 1990. Jair Borin era outro mestre oriundo do jornalismo econômico, mais ou menos da mesma faixa etária. Ao contrário de Kucinski, gostava de contar causos e piadas. Não raro, cometia a imprudência de rir das próprias histórias. Mesmo quando ninguém ria.
Além da experiência no jornalismo econômico, havia outras afinidades entre os dois, que só aos poucos fomos descobrindo. Duas delas, o compromisso com a função social do jornalismo e a disposição para a militância. Borin havia sido sargento da FAB, expulso às vésperas do golpe de 1964, militante trotskista preso em pelo menos duas ocasiões nos anos 1960 e 1970, e dirigente tanto do Sindicato dos Jornalistas quanto da Associação de Docentes da USP (Adusp) até bem pouco tempo antes de morrer, em 2003 - um ano e meio depois de orientar meu TCC. Kucinski, por sua vez, foi dos primeiros jornalistas e denunciar na grande imprensa a prática da tortura no Brasil, em 1970, partiu para um período de exílio em Londres, atuou na imprensa de resistência ao voltar, em meados dos anos 1970, e publicou uma das obras mais importantes sobre o tema, Jornalistas e revolucionários, no início dos anos 1990. Um ano depois de nos conhecermos, trabalhou na campanha de Lula. Acordava muito cedo para ler os jornais do dia e enviar cartas diárias ao QG da campanha, analisando o noticiário e propondo ações. Essa correspondência está no livro As cartas ácidas da campanha de Lula de 1998.
Os textos de Kucinski não eram nenhum primor estilístico. E costumavam dar algum trabalho para os revisores. Suas ideias, no entanto, denotavam argúcia e uma habilidade muito grande em ativar escaninhos distintos, combinando assuntos e fazendo uma leitura precisa de situações que, mais tarde, chamaríamos de "transversais". Seu olhar era preciso, cartesiano, possível herança da formação em Física ou de uma educação rigorosa, talvez por isso parecesse ranheta.
"Deve ser difícil viver por tantos anos a mesma busca", alguém comentou comigo na época, talvez meu pai, talvez a professora Alice Mitika Koshiyama, que o havia orientado no doutorado. "Que busca?", respondi.
Só então, entrando nos 20 anos, escutei pela primeira vez o nome de Ana Rosa Kucinski, a irmã desaparecida do meu professor de jornalismo econômico. E ouvi o que, para mim, foi um baque: Ana Rosa era professora do Instituto de Química da USP quando sumiu, em 22 de abril de 1974, junto com o marido, Wilson Silva. Seu envolvimento com a oposição à ditadura teria sido delatado às forças de segurança por um colega de trabalho, mesmo tipo de delação que havia resultado na prisão política de Jair Borin, também nos anos 1970. Não bastasse a delação, a mesma USP havia se prontificado em abrir um processo administrativo cobrando a exoneração sumária de Ana Rosa por abandono de emprego. Abandono. De. Emprego. Ana Rosa se tornava, a um só tempo, uma terrorista perigosa e capaz de abandonar o emprego, enquanto era presa, torturada, morta e ocultada por algum militar ou servidor público no pleno exercício de sua função. O desaparecimento físico de Ana Rosa Kucinski vinha acompanhado de um esfacelamento de sua carreira, sua honra, sua história. Por iniciativa da mesma USP em que eu estudava. Por iniciativa de algum professor ou funcionário que, talvez, ainda estivesse por ali.
Deve ser difícil viver por tantos anos a mesma busca. E o mesmo silêncio.
Kucinski estreou na literatura de ficção em 2011, aos 73 anos, depois de se aposentar como professor titular de jornalismo na USP e de deixar o cargo de assessor especial que ocupou durante parte do governo Lula. Agora, ele já não era Bernardo Kucinski, mas B. Kucinski. Assinadom por B., o livro K.: relato de uma busca refaz, em forma de romance, a mesma busca empreendida por seu pai - e, por extensão, por ele mesmo - ao longo de mais de três décadas, a busca pelo paradeiro da irmã desaparecida. Breve, como todos os livros que viriam em seguida, K. foi lançado pela Expressão Popular, editora vinculada ao MST, e teve reedições da Cosac Naify e da Companhia das Letras. Desde o ano passado, B. publica pela Alameda Casa Editorial. Em 2019, logo nos primeiros meses de governo Bolsonaro, emplacou uma surpreendente ficção distópica intitulada A nova ordem, no qual desenha um Brasil de volta à ditadura. Agora, B. volta ao tema das violações de direitos praticadas pelos militares, do qual nunca se esquivou, no recém-lançado romance Júlia.
Júlia é um livro sobre sequestro de crianças na ditadura. É também um livro sobre a indignação de um homem comum, um professor universitário, diante da violência e o arbítrio. Os raros terraplanistas que porventura terão lido esta coluna - e, ainda mais improvável, chegado até aqui - dirão que é um livro sobre um militante comunista e adúltero que doutrina alunos, esconde terroristas e se aproveita de uma bela jovem.
Júlia dialoga com outro título publicado recentemente pela mesma editora, o livro-reportagem Cativeiro sem fim, de Eduardo Reina, primeiro a jogar luz sobre um tema jamais explorado após mais de meio século de rescaldo do golpe de 1º de abril: o sumiço de crianças que tiveram seus pais presos, torturados e mortos pela repressão. O que foi feito delas? Pouco se sabe. Tampouco é possível dimensionar com precisão o tamanho do problema. O que Reina conseguiu revelar após anos de investigação é que pelo menos 19 crianças foram sequestradas em condições suspeitas, algumas delas estranhamente adotadas por militares ou por funcionários ligados a integrantes das Forças Armadas - um deles, motorista particular do ex-presidente Ernesto Geisel.
Em Júlia, temos novamente o melhor de B. O ontem e o hoje compõem uma sinfonia que começa adágio e termina eletrizante. Lembra Milton Hatoum com sua trilogia da ditadura, misturando épocas e relatos. Mas é o B. de K. que se sobressai, firmando o autor como um inspirado, prolífico e generoso romancista do arbítrio, do regime de exceção. Ou melhor, dos regimes de exceção, os de 50 anos atrás e o de agora.
Livros de ficção histórica costumam ser flagrantemente contemporâneos. No Brasil de 2020, poucos títulos são mais atuais do que os que abordam os anos pós-1964. Júlia é um livro sobre o Brasil do AI-5: estudantes presos, jornais censurados, tortura, morte, desaparecimento. Como ficar indiferente em 2020?













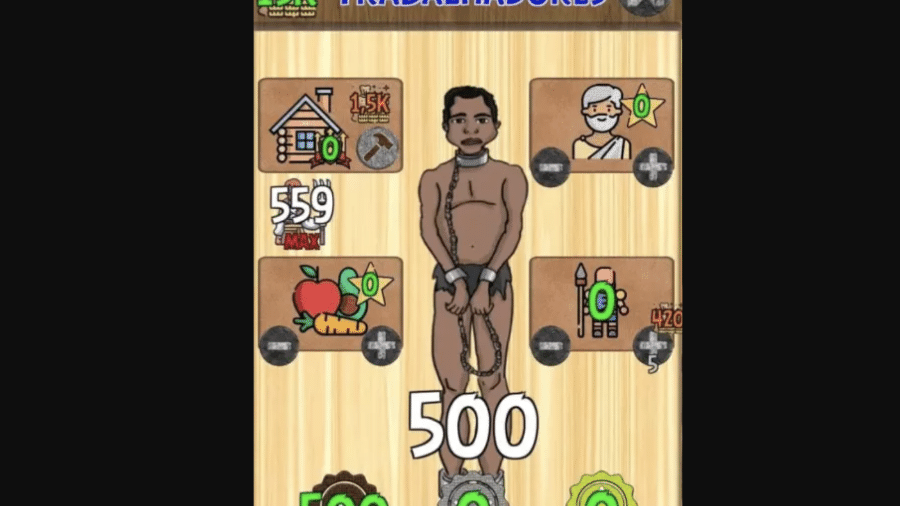


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.