Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
Em 'Mães Paralelas', Almodóvar defende a busca por desaparecidos políticos
Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail
O cineasta espanhol Pedro Almodóvar é conhecido, entre muitos aspectos, por utilizar cores fortes nos figurinos e cenários de seus filmes. Essa assinatura o acompanha desde o início da carreira, nos anos 1980. Três décadas atrás, a gaúcha Adriana Calcanhotto já revelava, numa das faixas do álbum "Senhas", de 1992, o hábito de andar pelo mundo "prestando atenção em cores (de) que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores..." (ouça). No recém-lançado Mães Paralelas, disponível na Netflix (assista), Almodóvar volta a carregar nas cores. E não apenas no visual, mas também em sentido figurado, ao alinhavar o argumento principal - as desventuras de duas mães solo que dão à luz no mesmo dia e no mesmo local - a uma trama política e histórica, tão urgente em 2022 quanto na redemocratização: a luta de familiares por localizar os remanescentes ósseos de dezenas de milhares de pessoas que foram vítimas de desaparecimento forçado, na Espanha, entre o início da Guerra Civil Espanhola, em 1936, e o final da ditadura de Francisco Franco, em 1975.
Nada mais oportuno do que carregar nessas cores. Estima-se que mais de 100 mil pessoas desapareceram na Espanha durante aquele período. Desapareceram, não: foram desaparecidas. Tema de uma convenção internacional adotada pela ONU em 2006 e firmada pelo Brasil no ano seguinte (leia), o desaparecimento forçado é considerado uma grave violação de direitos humanos, não passível de anistia e definida como delito continuado, que não cessa enquanto não for revelado o paradeiro da vítima. Ainda assim, tanto na Espanha quanto no Brasil, leis de anistia têm sido utilizada há mais de quarenta anos para garantir a impunidade de agentes de Estado responsáveis por crimes como tortura, extermínio e ocultação de cadáveres. A lei espanhola, de 1977, é ainda mais descarada do que a brasileira ao positivar - no Artigo 2º, alínea f - a extensão da anistia aos "delitos cometidos por funcionários e agentes da ordem pública contra o exercício dos direitos das pessoas".
Numa das primeiras sequências de Mães Paralelas, a fotógrafa Janis (Penélope Cruz) faz retratos do antropólogo forense Arturo (Israel Elejalde) para uma revista. O espectador fica sabendo que Arturo é uma autoridade no assunto e que despertou o interesse da imprensa por liderar escavações recentes que culminaram na localização de centenas de pessoas desaparecidas desde a Segunda Guerra Mundial. Janis, a fotógrafa, tem um assunto pessoal para tratar com Arturo e o convida para um café após as fotos. Neta de um desaparecido, Janis afirma saber onde seu avô foi enterrado, juntamente com outras vítimas de sua cidade natal, ainda durante a Guerra Civil Espanhola. Ela pede a ajuda do especialista para viabilizar uma escavação no local, oitenta anos após a chacina que os matou, com requintes de crueldade - alguns receberam pás e foram obrigados a abrir o buraco onde seriam jogados. Arturo, realista, explica que o governo federal cancelou os repasses para os trabalhos de localização e análise de remanescentes ósseos de desaparecidos políticos. E não há perspectivas de que as coisas melhorem, não naquele governo. Mais ou menos como no Brasil de hoje.
Ao longo de duas horas, o enredo do filme desabrocha em camadas. E uma dessas camadas dispõe sobre a luta por escavar um terreno em busca não apenas de esqueletos, mas de uma memória a ser reconstituída, de um passado a ser resgatado, e de justiça. A busca de uma neta é também a busca de três gerações: avós ainda vivas, tias septuagenárias. Mulheres. E mães. A busca de mães paralelas, não exatamente contemporâneas, por um passado saliente, perturbador, violentamente real, que precisa ser confirmado para que se opere o feitiço da reconciliação. "Para virar a página, é preciso lê-la", afirmou, certa feita, o juiz espanhol Baltasar Garzón, um dos próceres da justiça de transição e importante defensor da busca por desaparecidos políticos em seu país. "Não há história muda", escreveu Eduardo Galeano no livro De pernas pro ar, de 1999, em trecho reproduzido na tela em Mães Paralelas. "Por mais que a queimem, por mais que a rasguem, por mais que a mintam, a história humana se nega a calar a boca". O resto do parágrafo original de Galeano é igualmente inspirador e verdadeiro: "O direito de lembrar não figura entre os direitos humanos consagrados pelas Nações Unidas, mas hoje mais do que nunca é necessário reivindicá-lo e pô-lo em prática: não para repetir o passado, mas para evitar que se repita; não para que os vivos sejamos ventríloquos dos mortos, mas para que sejamos capazes de falar com vozes não condenadas ao eco perpétuo da estupidez e da desgraça".
Uma das marcas mais pungentes e macabras dos Estados totalitários instalados em diversos países do mundo no século XX, dos quais a ditadura franquista é apenas um exemplo, o desaparecimento forçado ainda é praticado no Brasil de 2022, como política extraoficial, por integrantes de um Estado anacronicamente violento e autoritário. Quem são eles? São parlamentares envolvidos até o pescoço com as milícias, que atuam como fiadores da intimidação e do terrorismo de Estado nas comunidades, apoiando ou fazendo vistas grossas para os cemitérios clandestinos que se espalham nas periferias urbanas. São policiais militares, beneficiados pela leniência das ouvidorias e por instrumentos que garantem a impunidade, como os autos de resistência, sempre dispostos a fuzilar pessoas pretas, pobres e periféricas e a sumir com os corpos para evitar o risco, ainda que remoto, de suspensão. Onde está o Amarildo, lembra?
Ainda buscamos, no Brasil, por nossos mortos e desaparecidos. Não apenas para nos reencontrarmos com eles, mas para nos reconciliarmos com a nossa própria história. Ler a página, aprender com ela, e só então virá-la.
As 1.049 ossadas humanas ocultadas numa vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo, e reveladas em 1990, são apenas uma das muitas pontas de iceberg do intricado quebra-cabeças de violações que compõe o instrumental da repressão política no Brasil dos militares. Cinco décadas após os assassinatos praticados pelo Estado nas câmaras de tortura dos DOI-Codi, dos Deops e das casas da morte, trinta e dois anos após a deflagração da vala de Perus, os trabalhos de análise e identificação das referidas ossadas corre o risco de ser interrompido novamente, não por ter terminado, como se veiculou recentemente, mas em razão de um despejo iminente e da ausência de vontade política para se encontrar uma alternativa que viabilize a conclusão dos trabalhos com a celeridade que o tema deveria inspirar. Autor de um livro sobre o assunto e de um podcast baseado no livro, escrevi em outras ocasiões sobre a anacrônica queda de braços travada, ainda hoje, entre a União e as comissões de familiares de mortos e desaparecidos, aqui, aqui e aqui.
Até quando será preciso esmurrar as mesmas pontas de facas? Dos desaparecidos da ditadura, assassinados na primeira metade da década de 1970 aos vinte e poucos anos, já praticamente não restam mães para perturbar a paz e exigir o troco. São as irmãs e as filhas que assumiram as mesmas bandeiras, a mesma luta, as mesmas cobranças. Elas, também mães, e tias, e avós, são todas mães paralelas numa história que não cessa, que não dá sossego. Como as mães que espanavam a poeira das estrelas no deserto do Atacama no filme "Nostalgia da Luz", de Patricio Guzmán. Como as mães que encontram forças sabe-se lá onde para ocupar as ruas e estampar na roupa o retrato do filho, executado por um policial militar quando ia para a escola, no Jardim Brasil, em Paraisópolis, na Rocinha, em São Gonçalo ou no Complexo do Alemão. Não existe história muda.













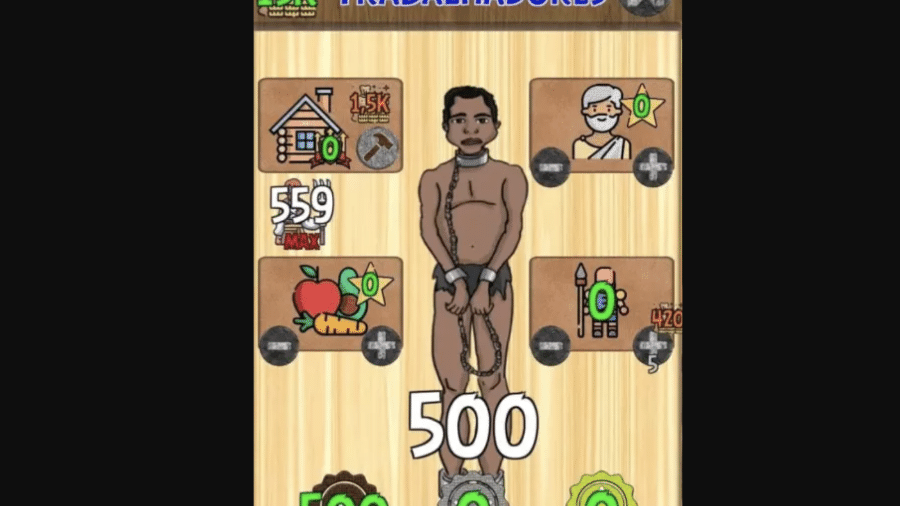


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.