Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
Como foi cobrir o acidente que matou Castello Branco no tempo do telégrafo
Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail
Numa modorrenta manhã de julho de 1967, sem grandes novidades no noticiário, estava sem fazer nada na redação, quando o chefe de reportagem Clóvis Rossi (1943-2019) me chamou, com o telefone na mão:
"Só tem você aí? Então vai você mesmo. Vai para o Ceará urgente: o marechal Castello Branco morreu num desastre de avião".
Tinha acabado de entrar no Estadão, o maior jornal brasileiro na época, poucos meses antes, vindo de um jornal de bairro, "foca" de tudo, logo depois de entrar também na faculdade de jornalismo da USP.
Meus jovens colegas de ofício no UOL, que já cresceram com um smartphone na mão, não podem nem imaginar a temeridade que foi o Rossi me dar aquela ordem, e a minha em aceitá-la, num tempo em que não havia nem telex para transmitir as matérias para a redação.
Não tinha ideia de como fazer isso. Despacharia o material por avião, como tinha acabado de fazer durante a cobertura da tromba d'água que deixara 400 mortos em Caraguatatuba (SP)? Telefonemas interurbanos eram precários e demoravam uma eternidade para completar a ligação. Celulares e laptops ainda não passavam de ficção científica. Munido apenas de bloco e caneta, juntei umas roupas e algumas parcas informações e corri para o aeroporto. Poderia ser o fim da minha incipiente carreira de estagiário, mas não tive nem tempo de pensar nisso.
A empresa já tinha fretado um teco-teco bimotor para transportar a equipe: dois fotógrafos (os experientes José Pinto e Amilcar Vieira), dois repórteres especiais do Jornal da Tarde (Rolf Kuntz e Sandro Vaia), e só eu pelo Estadão. Com mil escalas para abastecer, chegamos a Fortaleza bem no momento em que o corpo do ex-presidente era conduzido à pista, onde seria embarcado num avião da FAB para o Rio de Janeiro.
— Que horas são? — perguntei a Zé Pinto, enquanto corria atrás dele.
— Sei, lá, não enche o saco, moleque!
Maldita mania que tenho até hoje, de não usar relógio. O "quando" é sempre um dado importante em qualquer reportagem.
Comecei mal, mas pedi desculpas, e dali para a frente o veterano fotógrafo, com pena do "foca", resolveu me ajudar em tudo. Graças a ele, salvei meu emprego e estou na profissão até hoje, quase seis décadas depois.
Foi o Zé Pinto quem veio me avisar que o único lugar onde poderíamos transmitir nosso material era a agência central dos Correios e Telégrafos, onde estava instalada a Western, empresa norte-americana de telecomunicações.
Filas de repórteres de todos os pontos do país formavam-se diante do guichê de telegramas. Havia mais jornais naquela época. Minhas matérias foram enviadas por um telegrafista idoso que ficava esperando uma pequena recompensa, como me ensinou o fotógrafo.
A operação era demorada. Por isso, eu não podia escrever muito como costumava fazer. Tinha que ser em linguagem telegráfica mesmo, mais ou menos como hoje se faz no Twitter.
No saguão de entrada da agência, toda envidraçada, Zé Pinto montou seu mastodôntico equipamento de rádio, que levava horas transmitindo para a redação duas ou três fotos cheias de riscos, diante de incrédulos curiosos grudados nas janelas, querendo entender como funcionava aquele trambolho.
"Amanhã você vai ver essa foto no jornal", dizia o orgulhoso fotógrafo a quem lhe perguntava o que estava fazendo.
Castello Branco tinha passado o fim de semana em Quixadá, no sertão cearense, na fazenda "Não me deixes", refúgio da escritora Rachel de Queiroz, sua grande amiga. O ex-presidente morreu na volta do interior para a capital, quando o pequeno Pipper em que viajava, cedido pelo governo do estado, chocou-se com um jato da FAB em treinamento numa zona de exclusão — interditada para aviões não militares — já perto da Base Aérea.
Fatalidade ou atentado?, era o que se especulava. Quatro meses antes, Castello havia passado a faixa presidencial a outro militar, o general Costa e Silva, contra a sua vontade, pois eles representavam correntes diferentes no Exército — a ala mais moderada tinha sido vencida pela linha dura, que nos levaria ao AI-5.
Como a razão do acidente demoraria a ser descoberta, achei melhor ir a Quixadá para levantar os derradeiros momentos do ex-presidente. Já que a concorrência em Fortaleza era grande, arrisquei-me a deixar de lado a cobertura oficial e fui atrás de histórias paralelas que ajudam a entender a principal.
Na fazenda de Rachel de Queiroz, pude reconstituir o último diálogo de Castello com a escritora:
— Mas, Castello, como é que você, homem acostumado a viajar em aviões possantes e velozes, por todo esse mundo de Deus, vai ter a coragem de arriscar a vida num avião tão pequeno como esse?
— Você está com algum pressentimento, Rachel? Sou muito supersticioso. Se você não quiser, posso ir noutro transporte.
— Deus o acompanhe, Castello.
O Brasil é feito de muitas fatalidades. Tancredo Neves, o primeiro presidente civil depois da ditadura, morreria antes de tomar posse. Fernando Collor, o primeiro eleito pelo voto direto, seria impichado. Para completar a tragédia, um capitão ejetado do Exército, que defende a ditadura militar, foi eleito pelo voto direto.
Em tempo: resolvi contar essa história hoje ao ler a reportagem de Alexandre Saconi na coluna "Todos a Bordo", publicada neste domingo aqui no UOL: "O estranho acidente de avião que matou o 1º presidente da ditadura no Brasil".
No meu livro de memórias "Do Golpe ao Planalto — Uma vida de repórter" (Companhia das Letras, 2006), que serviu de base para esta coluna, conto outros episódios da nossa vida política desde 1964, o ano em que comecei a trabalhar em jornal. Tudo faz muito tempo...
Vida que segue.










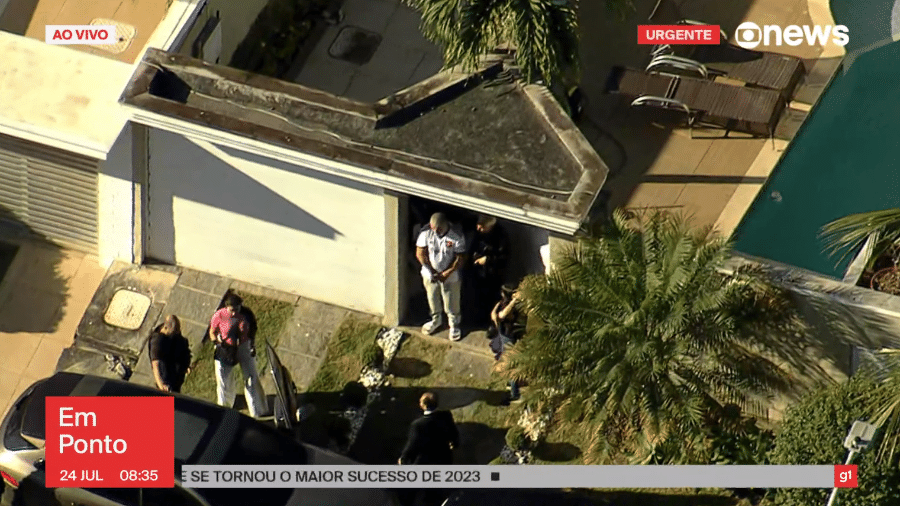





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.