O que a eleição de Joe Biden significaria para a onda nacionalista no mundo

Quando a pandemia do novo coronavírus se abateu sobre o mundo, os pessimistas previram um cenário apocalíptico para a política internacional, impressionados com a maneira como muitos governos reagiam à crise na saúde pública. Fronteiras estavam sendo fechadas, os esforços de coordenação entre países para dar resposta à ameaça eram pífios e governos passaram a disputar insumos básicos e urgentes, como máscaras cirúrgicas e respiradores.
Essa retração na cooperação global foi capitaneada pelo presidente americano Donald Trump. Como chefe de governo do país mais poderoso do mundo, seria natural que coubesse a ele liderar o mundo na crise. Mas o que se viu foi o oposto. A pandemia exacerbou os traços nacionalistas e o isolacionismo do governo Trump.
Sua postura diante da pandemia serviu de modelo para outros governantes de traço nacionalista e populista, como o brasileiro Jair Bolsonaro. Poucos dessa linha corrigiram seu rumo a tempo, como é o caso do britânico Boris Johnson, que depois de ter conhecido de perto o vírus em uma cama de UTI compreendeu que não se tratava apenas de uma gripezinha.
Crises internacionais, porém, nem sempre resultam em cenários que são uma continuidade dos fenômenos que as desencadearam. A pandemia da Gripe Espanhola (1918/1919) e a crise econômica que se espalhou pelo mundo dez anos depois, por exemplo, tiveram efeitos distintos em diferentes partes do mundo.
A crise dos anos 30 desembocou em políticas de estabilização e bem estar nos Estados Unidos e em uma ditadura fascista na Alemanha. Dois rearranjos políticos antagônicos, portanto, nasceram das mesmas cinzas da destruição econômica.
A derrota eleitoral de Donald Trump afastaria, por ora, as previsões de que a pandemia levaria a um fortalecimento da onda nacionalista que o elegeu em 2016, na esteira do referendo sobre o Brexit, na Inglaterra, e da ascensão de partidos xenófobos na Europa e, mais esparsos, em outras partes do mundo.
Biden terá o desafio de reformular a política externa americana visando, entre outras coisas, a reconstruir a confiança diplomática de seu país e a retomar alianças abandonadas por Trump, sem, no entanto, repetir os erros dos anos de Barack Obama no poder (erros aos quais ele assistiu de camarote, como vice-presidente). Entre esses erros, estão aqueles que serviram a mesa para as guerras civis que pipocaram no Oriente Médio e no Norte da África após os protestos da Primavera Árabe, em 2011.
Os Estados Unidos terão a chance, depois de experimentar o isolacionismo e o protecionismo de Trump, de encontrar uma nova forma de se posicionar como liderança mundial. A tentação de se apresentar como a polícia do mundo certamente continuará presente, mas a realidade agora é outra. No vácuo deixado por Trump, China ganhou espaço e aliados históricos dos Estados Unidos perceberam que não poderão contar com a superpotência para sempre. Quem garante que daqui a quatro anos os americanos não elegerão outro líder populista e nacionalista?
A onda nacionalista, portanto, não vai virar espuma do dia para a noite. Tudo aquilo que deu força a ela nos últimos anos continua existindo: as guerras culturais e o medo dos imigrantes (estão aí os recentes atentados terroristas na Europa para alimentá-lo), as parcelas das populações dos países ricos que se sentem deixadas para trás pela globalização, a insatisfação com as rápidas transformações sociais.
A eleição de Biden não representaria o fim da tentação nacionalista e populista, seja nos Estados Unidos, seja em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. Quem vive em países governados por representantes desse fenômeno político não deve cultivar a ilusão de que Biden vai ajudar a derrotá-los.
Mas uma derrota de Trump mostraria que uma crise devastadora nem sempre é o princípio do pior dos caminhos.








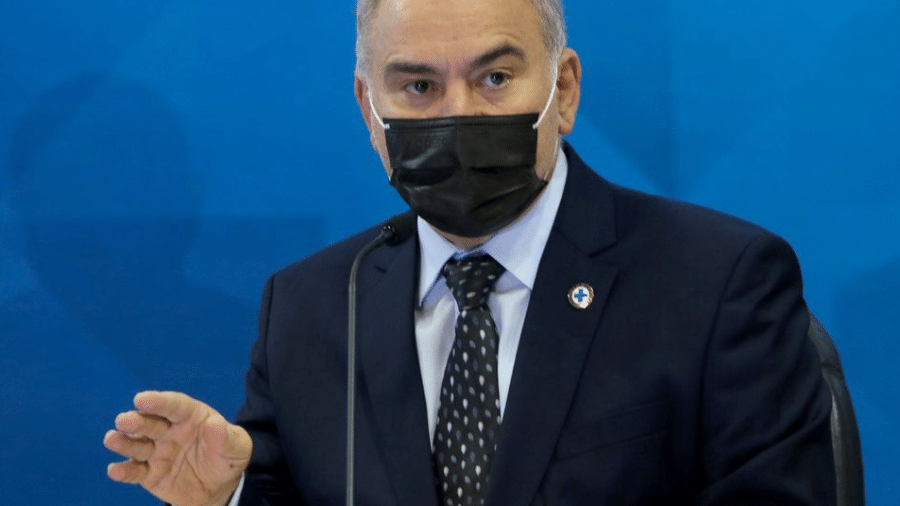







ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.