Por que a saída ou permanência de Assad é peça-chave para fim do conflito sírio
 Ó. Gutiérrez
Ó. Gutiérrez
Em Madri (Espanha)
-
EPA/EFE

EUA e Rússia disputam a permanência ou não do presidente sírio no poder
Sobre a mesa, a permanência ou não de Bashar al Assad à frente do Estado sírio, o dilema sobre o qual giram as posições da Rússia e dos EUA, respectivamente, pareceria mais um detalhe da nebulosidade das duas potências históricas em sua política para o Oriente Médio, uma questão que poderia ser resolvida com a cessão de uma das partes para que o jovem dirigente dê lugar a outro dentro do aparelho, ou com a flexibilidade da outra para que o mandatário continue assumindo a Presidência.
Mas que o cabeça da poderosa família Assad continue ou não no poder implica duas opções diametralmente opostas na solução da guerra que já causou a morte de mais de 300 mil pessoas desde março de 2011. Estas são algumas das chaves que explicam o dilema em torno da permanência de Assad:
Soberania: em primeiro lugar, sem dúvida, a permanência no poder de Bashar al Assad, nascido em Damasco há 50 anos, passa por sua vontade de deixar ou não as rédeas do governo. Como dirigente máximo de um país soberano com mínimas garantias democráticas - não existem eleições livres com participação de partidos de oposição -, é ele quem decide enquanto mantiver o apoio da cúpula do regime. Assad, que chegou à Presidência há 15 anos, após a morte de seu pai, Hafez, não quer abandonar o poder. Convocou em julho de 2014, em plena escalada bélica, eleições que ganhou sem contestação nas urnas para iniciar seu terceiro mandato presidencial.
Repressão: como presidente do país, e sobretudo como comandante-em-chefe das Forças Armadas sírias, Assad é indicado como o principal responsável pela violenta repressão na revolta pró-democracia nascida em Deraa em março de 2011, que posteriormente derivou em um conflito armado.
Sob suas ordens, o Exército e as milícias (shabiha) atacaram indiscriminadamente, com o uso de bombas de fragmentação e armas químicas, alvos com população civil, causando milhares de mortes, inclusive de crianças e mulheres. ONGs em campo documentaram igualmente as atrocidades praticadas pelas Forças Armadas contra supostos opositores.
Dos 330 mil mortos calculados pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), organização que centraliza a contagem de vítimas da guerra, mais de 110 mil são civis.
EUA: a série de acusações contra Assad durante os quatro anos de guerra deixou o governo Obama sem outra opção além da saída do presidente. No entanto, Washington apoiou abertamente as pretensões da oposição ao regime em 2011, como já havia feito com outras forças revolucionárias na Primavera Árabe, o que fez que o embaixador Robert Ford tivesse que deixar Damasco depois dos primeiros meses da revolução. A partir daí, os EUA prestaram de forma explícita apoio diplomático à oposição ao regime, hoje reunida em torno da Coalizão Nacional Síria, guarda-chuva de forças críticas ao regime assentadas na Turquia, diante de uma possível transição sem Assad.
Além disso, Washington, através de outros países, ajudou militarmente as forças rebeldes, com fracos resultados. Hoje esse apoio se traduz no treinamento e armamento da Nova Força Síria, que, em princípio, tem como objetivo principal combater o Estado Islâmico. Todo esse investimento diplomático e militar condiciona a rejeição clara de Washington à permanência de Assad. Opositores políticos e militares expressaram precisamente na última segunda-feira sua insistência em que o atual presidente não possa fazer parte de nenhum processo de transição.
Armas químicas: um dos limites definidos por Washington e parte da comunidade internacional ao regime de Assad foi o uso de armas químicas. O ataque com esse armamento a Ghutta, distrito nos arredores de Damasco, em agosto de 2013, desencadeou os preparativos para a intervenção militar estrangeira dirigida por Washington contra as Forças Armadas sírias e alguns locais estratégicos do regime. A ofensiva, em plena escalada do Estado Islâmico no norte do país, não ocorreu, mas condenou definitivamente Assad perante Obama.
Rússia: embora os EUA tenham afirmado durante os quatro anos da crise síria que Assad deve sair, a Rússia insistiu em que o presidente não é uma carta para se jogar na solução do conflito e manteve seu apoio político, militar e econômico ao país árabe. No outro extremo das aspirações americanas, Moscou pretende que a guerra aberta na Síria seja uma contenda contra o Estado Islâmico de uma coalizão de todas as forças com interesses na zona - na qual estariam eles mesmos e os iranianos - e a participação do Exército comandado por Assad. Essa força internacional, proposta no mapa do caminho esboçado por Vladimir Putin nas últimas semanas, precisaria da colaboração das tropas sírias e do Exército americano, o que se considera muito difícil.
O apoio de Moscou a Damasco é também um sustento tradicional e histórico. Assad é presidente, comandante-em-chefe do Exército, mas também é secretário-geral do Baath, partido único que governa o país, na órbita socialista da União Soviética desde os tempos da Guerra Fria. Estrategicamente, Moscou mantém uma base militar na localidade síria de Tartus, na costa, um enclave único para a Rússia no Mediterrâneo.
No fundo do apoio do Kremlin também estão os desejos de aproveitar o rico território em hidrocarbonetos com que conta a Síria na faixa oriental do país. Hoje essa região tem forte presença do Estado Islâmico.
Alianças religiosas: as divisões entre Moscou e Washington também refletem suas alianças com os diferentes ramos do islã. A Arábia Saudita e o Irã disputam a região como representantes máximos de sunitas e xiitas, respectivamente. O regime de Teerã, com o qual Washington rompeu relações depois da revolução de Khomeini e a tomada da embaixada americana em 1979, apoia de forma incondicional Assad - como o faz a milícia libanesa xiita Hizbollah -, representante da minoria alauíta, seita que deriva exatamente do xiismo. Os alauítas governam a cúpula do regime e têm uma presença fundamental nos setores comerciais do país.
A permanência de Assad é a permanência na região de um governo ligado a Teerã, o segundo depois do iraquiano. E isto não é visto com bons olhos pelos EUA nem por seu principal aliado na região, a Arábia Saudita, que também apoiou de forma explícita a oposição política e militar a Assad.
O fator jihadista: a expansão do grupo jihadista Estado Islâmico armou a retórica de Assad contra a revolta, aguçando suas acusações de terrorismo contra todos os que atacassem o regime. Se Paris e Washington tentavam há dois anos consolidar o órgão de oposição ao governo de Assad, agora seus esforços diplomáticos giram em torno da coalizão que combate do ar os jihadistas. Isto deu um alívio a Assad.
Moscou afirma que a derrota do Estado Islâmico precisa de Assad no poder para evitar uma maior desestabilização do país que beneficie os jihadistas. Segundo o Kremlin, além disso, cerca de 2.000 membros do Estado Islâmico chegaram à Síria ou ao Iraque vindos da Rússia, muitos de origem chechena, e por isso entre suas prioridades está combater o grupo e evitar que se volte contra ele com o retorno de milicianos ao território russo.
Tradutor: Luiz Roberto Mendes Gonçalves
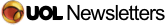
 Rússia atacou oposição e não EI na Síria, dizem fontes dos EUA e da França
Rússia atacou oposição e não EI na Síria, dizem fontes dos EUA e da França  Quatro divergências entre Obama e Putin sobre o conflito na Síria
Quatro divergências entre Obama e Putin sobre o conflito na Síria  Bombardeios da França na Síria matam pelo menos 30 pessoas
Bombardeios da França na Síria matam pelo menos 30 pessoas 