Racismo ambiental, justiça climática e os problemas da cidadania no Brasil

Nas últimas semanas, temos acompanhado as notícias sobre o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal - STF. A votação no STF foi acompanhada por intensa mobilização indígena em Brasília para sensibilizar os ministros (e a sociedade) quanto à importância da manutenção dos direitos territoriais dos povos originários garantidos pela Constituição Federal de 1988. A posição política da agenda indígena é irredutível: NÃO AO MARCO TEMPORAL!
O marco temporal materializa uma leitura inconstitucional e colonialista do artigo 231 da Constituição. No limite, isenta o Estado brasileiro de processos de remoção, esbulho e contingência histórica de povos indígenas em seus territórios em todo o Brasil, fixando arbitrariamente o 5 de outubro de 1988 (promulgação da Carta Magna) e a ocupação comprovada nesta data como baliza para o reconhecimento de Terras Indígenas. A partir dessa interpretação, inclusive, muitas Terras Indígenas poderiam ser contestadas e, assim, colocadas à disposição para a exploração econômica pelo agronegócio e pela mineração.
Como discutiu Patrícia Alves-Melo, o marco temporal, e outros mecanismos de freios ao reconhecimento pleno de direitos e cidadania à população indígena - e negra -, representa estratégia de "genocídio legislado". Afinal, um cenário de forte insegurança quanto à ocupação territorial também significa a ampliação de explorações predatórias e degradação ambiental, colocando em xeque recursos necessários para a reprodução sociocultural de povos indígenas, comunidades quilombolas e populações tradicionais. Logo, o que está em jogo, junto dos territórios tradicionais, é o direito à vida e a cidadania desses grupos.
Marco temporal é racismo ambiental
Essa leitura do marco temporal entra na chave interpretativa do racismo ambiental e seus meios de exclusão de grupos étnico-raciais diferenciados. E conectamos isso a outras experiências recentes no Brasil relacionadas aos territórios quilombolas e de outras populações tradicionais. Ao ligar o tema ao exercício (ou não) da cidadania por gente negra e indígena, problematizamos um mecanismo biopolítico instrumentalizado, muitas vezes, pelo Estado que aprofunda a vulnerabilidade social e econômica desses grupos, ao passo que naturaliza desigualdades e um conjunto de violências que tem na exploração do meio ambiente um recurso legitimador. Nesse processo, ampliam-se cenários de fome, insegurança alimentar, doenças, conflitos e mortes.
O racismo ambiental é uma expressão da necropolítica, mecanismo de poder que define quem pode viver e quem deve morrer, que passa a intermediar uma série de relações. A crise humanitária vivida pelos Yanomami, por exemplo, se enquadra nesse esquema de catástrofe e horror colonial que ainda se reproduz na sociedade contemporânea. De forma sintomática, o racismo ambiental tem sido empregado para excluir mais da metade da população brasileira de processos decisórios sobre suas próprias realidades e, assim, tirar-lhe qualquer perspectiva de exercício da cidadania.
É uma situação que atravessa os tempos e faz conectar passado e presente e os muitos projetos de futuro em curso. Logo, o racismo ambiental é um fio condutor para a compreensão histórica de processos que têm ampliado a marginalização e invisibilidade de grupos sociais e suas lutas por terra e bem-viver.
A situação histórica dos Tembé: racismo ambiental e cerceamento de direitos à vida
Podemos recobrar sentidos disso ao focalizar, por exemplo, os conflitos e episódios de violência envolvendo os Tembé e seu território desde 1970. E suas muitas resistências que têm tensionado as arbitrariedades perpetradas e reivindicado a garantia da integridade territorial como recurso político para a manutenção de suas identidade e cultura.
Foi a partir dessa década que um cenário de invasões e disputas entre indígenas e não indígenas aumentou no nordeste paraense, numa região entre os rios Guamá e Gurupi. Isso levou os Tembé a diversos confrontos com invasores. Em 1976, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI fez acordo com um fazendeiro local (Mejer Kabacznik) e permitiu que ele abrisse uma estrada que cortava a reserva Tembé. Ela tornou-se foco principal de invasão e conflitos pela terra na região. No processo, Mejer apropriou-se de extensão significativa do território Tembé e a incorporou à sua fazenda. Outras ações arbitrárias de ocupação, como a Gleba CIDAPAR, fragilizaram ainda mais o direito e a dinâmica territorial desses indígenas. Como relatou um dos Tembé em reportagem ao jornal O Liberal, de 19 de março de 1989: "temos tantas terras e estamos acuados".

Desde então, o povo Tembé viu seu território ser constantemente ameaçado e devastado por fazendeiros, posseiros, madeireiros e outros grupos criminosos que ocuparam quase ⅔ da TIARG (Terra Indígena Alto Rio Guamá). Grande parte da cobertura vegetal foi derrubada, afetando a distribuição de caças, a dinâmica de rotatividade das roças e a extração de outros recursos naturais como sementes, plantas medicinais, óleos, etc. Isso foi prejudicial aos Tembé para a manutenção de suas práticas culturais e reprodução social, fazendo com que a população regional os considerasse como "índios misturados", sem levar em conta os fatores e contingências históricas que conduziram a isso.
O argumento da mistura, enquanto indicativo de perda identitária, foi (e ainda é) muito utilizado como justificativa para invasões e ocupações ilegais. Isso atravessa a realidade de muitas comunidades indígenas pelo interior do Brasil. No caso dos Tembé, dizia-se que eles não eram mais "índios", logo não precisavam de tantas terras. A própria FUNAI reiterava isso, de acordo com relatórios das décadas de 1970 e 1980. Porém, os Tembé continuaram (e continuam) afirmando sua identidade indígena e lutando por seu território e direitos.
Mesmo a homologação da TIARG em 1993 não sanou o grave problema dos Tembé quanto à invasão de seu território. Foram anos de tensão, confrontos e insegurança que marcam, de forma dolorosa, a memória desses indígenas. Só 30 anos após a homologação que o problema começa a ser resolvido, com o processo de retirada dos invasores não indígenas (desintrusão) da TIARG. Assim, os Tembé retomam o controle do território, de forma integral, e a gestão ambiental da Terra Indígena, cujos projetos futuros buscam recuperar as áreas degradadas e cuidar desta importante zona de floresta no nordeste paraense.
Quais os rumos para o futuro?
O caso dos Tembé revela como o racismo ambiental, somado a outros mecanismos, estimula meios de destruição da vida desses (e de outros) povos. Aqui, uma fórmula se estabelece como estratégia sociopolítica de segmentos hegemônicos da nossa sociedade: a manutenção do racismo ambiental como forma de cerceamento de direitos e cidadania para grande parte da população, sobretudo gente negra e indígena. E ao manter tais grupos como marginais e vulneráveis, percebe-se como hierarquias e formas de dominação são (re)produzidas por setores e sujeitos sociais que têm maior capital político e ecológico em distintas esferas de influência.
Newsletter
OLHAR APURADO
Uma curadoria diária com as opiniões dos colunistas do UOL sobre os principais assuntos do noticiário.
Quero receberPorém, a urgente importância global da questão climática tem sido agenciada como recurso estratégico para a ampliação da participação política dessas populações em fóruns internacionais e espaços de tomada de decisão. E políticas públicas vêm sendo pautadas para mitigar as desigualdades estruturadas por questões socioambientais e assegurar condições dignas de vida coletiva para esses grupos em seus territórios.
Aqui, voltamo-nos à Cúpula da Amazônia para reiterar uma fala da Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que bem sintetiza os desafios e a centralidade dessa discussão: "com racismo ambiental não há justiça climática"! Se queremos adiar o fim do mundo, parafraseando Ailton Krenak, precisamos verdadeiramente ouvir e aprender com quem cuida da terra e do clima.










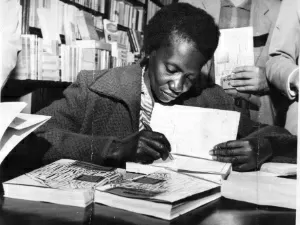









Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.